

SAMANTHA LIMA
05/06/2017
Em uma noite de outubro de 2015, depois do jantar em família, Ollie Barbieri, então com 23 anos, reuniu toda a sua coragem e chamou os pais para uma conversa. O que tinha a dizer talvez fosse pesado demais para o casal, evangélico, absorver, que dirá assentir. Mas Ollie não recuou. Todos sentados no sofá, Ollie encarou pai e mãe e revelou: “Sou um menino e vocês precisam aceitar isso”. Ollie não se identificava com o sexo feminino que, por sua genitália, fora-lhe atribuído no nascimento. Depois de um imenso sofrimento desde a adolescência e graças ao amparo de uma psicóloga, decidira, enfim, encarnar o que considerava sua verdadeira identidade. Já havia consultado também um psiquiatra e iniciado o procedimento que mudaria sua vida. Um mês antes, começara um tratamento hormonal para moldar um corpo em que se reconhecesse como homem. Ollie iniciou a mudança na rede pública de saúde.
A cabeleireira Sandra Moreira, de 42 anos, é daquelas figuras que entornam bom humor. Com limite, porém. “Sofro preconceito, mas sei colocar no lugar quem me destrata”, diz. Até sete anos atrás era pura dissonância. Sempre se viu como menina, mulher. Não era o que o espelho mostrava. Aos 13, orientada por um amigo, Sandra decidiu tomar, por conta própria, hormônios. Colocava-se em risco em busca das curvas que sonhava ter. Primeiro, tomava pílulas anticoncepcionais de sua mãe. Depois, soube por amigas de um anticoncepcional injetável. Somente aos 35 passou a ter atendimento médico. Na rede pública.


Ollie é um homem transgênero. Sandra, uma mulher transgênero. Ambos frequentam o mesmo programa de atendimento no Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia (Iede), da rede estadual de saúde do Rio de Janeiro, destinado a pessoas com disforia de gênero. O significado original de disforia é: um estado agudo de insatisfação e inquietude, normalmente acompanhado por depressão ou ansiedade. Disforia de gênero, portanto, é a insatisfação, a inquietude com relação ao gênero – feminino ou masculino – com que se nasce. O sentimento de inadequação na própria pele. A falta de sincronia entre corpo e alma. E as decorrentes depressão e ansiedade que acompanham essa angústia.
Para que os médicos que prestam o atendimento na transição (para o gênero com que de fato a pessoa se identifica) trabalhem, a disforia tem de ser atestada por um psiquiatra. O Iede acaba de ser habilitado pelo Ministério da Saúde como um dos nove estabelecimentos que oferecem programa de transexualização pelo Sistema Único de Saúde – embora faça esse atendimento desde 1999. No país, outros quatro centros públicos acompanham pacientes com disforia de gênero, mas sem a chancela do ministério.
Por entender que a disforia de gênero ameaça a saúde física e mental desses cidadãos, que formam um grupo vulnerável, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece, em ambulatórios e hospitais em sete estados, apoio ao paciente que pretende passar pela mudança – que pode incluir a cirurgia genital, chamada, no jargão técnico, de redesignação sexual. Inês Gadelha, coordenadora da Secretaria de Atenção à Saúde no ministério, diz que o poder público teve de se organizar para transformar o que era mera preocupação em um protocolo funcional de atendimento.
O método atual de atendimento desses pacientes na rede pública tem se desenvolvido nas últimas duas décadas, depois de muita luta de entidades de defesa dos direitos LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis) e muita resistência de setores mais conservadores da sociedade e da política. Ele levou à atual política integrada de saúde. Em 2011, uma decisão judicial determinou que o SUS garantisse a cirurgia de transgenitalização, a mudança genital. Em 2013, uma portaria ampliou o protocolo, abrangendo o tratamento hormonal, que promove transformações corporais mais imediatas, além de atendimento com endocrinologistas, ginecologistas, angiologistas, urologistas, psicólogos, psiquiatras e nutricionistas.
Os procedimentos exigem que os pacientes se tornem metódicos. Ollie vai ao Iede uma ou duas vezes por mês. Toma hormônio masculino injetável, que compra em farmácia, com receita, e faz exames de sangue a cada três meses. Gasta entre R$ 85 e R$ 90 por mês. Para a mastectomia, que pretende fazer em junho, recorreu ao financiamento coletivo. As mulheres trans precisam gastar mais: cerca de R$ 200 por mês. Quando começou seu tratamento, em 2009, Sandra tomava hormônio feminino em forma de gel, que penetra na pele, e um bloqueador de testosterona, o hormônio masculino. Depois de se submeter à cirurgia de mudança genital, em 2015, e à retirada das gônadas masculinas, não precisou mais do bloqueador. Ela vai entre uma e três vezes por mês ao Iede.
Transgêneros frequentemente têm histórias conturbadas de passagem pela adolescência e ingresso na vida adulta, com pouco entendimento sobre sua própria condição e dificuldade de aceitá-la, além de episódios de preconceito. São comuns relatos de depressão e tentativas de suicídio. Transgêneros, ao levar a público causas específicas e visual diferente do padrão, tornam-se alvo de uma forma de discriminação específica, a transfobia. Ollie ouviu uma manifestação de hostilidade de um colega dentro de classe, na faculdade, quando sua condição foi revelada por seu nome feminino. Por segurança, anda pelo campus sempre em um grupo.
A mudança do registro também causa sofrimento. O interessado tem de entrar com ação judicial pedindo alteração de nome e sexo. As sentenças têm levado entre dois e quatro anos para sair, um tempo superior ao da transformação física a que se submetem os indivíduos trans. As defensorias públicas vêm prestando assistência. “Há insegurança jurídica porque a decisão depende das convicções do juiz. Há casos em que o autor perde até em segunda instância”, diz a defensora pública fluminense Lívia Casseres. Defensores públicos na maioria dos estados discutem como tornar o processo de troca de nome e gênero mais previsível judicialmente e, no futuro, como tornar a mudança possível apenas com solicitação em cartório, como ocorre na Argentina. Há juízes que exigem a cirurgia de mudança de sexo para dar sentença favorável. “Essa exigência é desnecessária. Basta a vontade do autor”, diz a juíza Maria Aglaé Tedesco. Desde 2005, ela já concedeu dez sentenças, todas favoráveis à mudança. Para o cidadão em transição, o tempo da Justiça parece exasperante.
M., de 21 anos, é um homem transgênero e começou a se sentir desconfortável no início da adolescência com sua antiga identidade de menina. “Só entendi quem eu era quando vi um menino transexual na TV”, diz. Hoje, ele vai ao Iede de três em três meses. Toma um antidepressivo e hormônio masculino injetável, o que provocou um aumento indesejado de seu nível de colesterol. O pai de M. o acompanha nas consultas ao Iede e faz declarações públicas de amor ao filho, mas insiste em buscar explicações. “Penso que é um espírito que nasceu no corpo errado”, diz, sendo repreendido pelo filho.
Ollie Barbieri, aos 11 anos de idade, já era atormentado sobre sua identidade. Confuso, disse aos pais que era gay. Precisou de mais uma década para se entender melhor e contar a eles que era um homem transgênero. A reunião familiar daquele outubro de 2015 adentrou a madrugada. Atônitos, os pais reafirmaram o amor pelo filho. Mas, até há pouco tempo, ainda o chamavam pelo nome de registro, que ele prefere não revelar, ou por pronomes femininos. “Só agora estão mudando o jeito de me tratar, porque ficou ridículo”, diz. Em outros ambientes, a adaptação encontra ainda mais obstáculos.
Iniciada a terapia hormonal, as mudanças externas podem se dar rapidamente ou levar até dois anos para ocorrerem. Ela demanda acompanhamento médico rigoroso. Essas substâncias estimulam o surgimento das características que o usuário quer ter – como barba – enquanto bloqueiam a produção de outras, responsáveis pelos aspectos que se pretende abandonar – como as curvas femininas, no caso dos homens trans. Poucos meses depois de iniciado o tratamento, homens trans desenvolvem barba e massa muscular, a menstruação cessa e as mamas atrofiam. As mulheres trans veem o desenvolvimento de mama e a atrofia dos genitais masculinos, além da redução de pelos no corpo. O processo de transformação radical amplia o risco de hipertensão, trombose e de neoplasias (tipos de câncer). “A terapia visa manter os níveis de hormônio dentro da faixa normal de uma pessoa da mesma idade do gênero com que o paciente se identifica. O acompanhamento médico é fundamental”, diz Karen de Marca, coordenadora do programa no Iede, que atendeu 350 pessoas desde 1999.
Fora do atendimento público, o caminho é, muitas vezes, o tratamento clandestino. O consumo de hormônios ocorre com informações parciais disponíveis na internet. Fornecedores ilegais vendem as substâncias, especialmente hormônios masculinos, sem controle.
Paralelamente à utilização dessas substâncias, o paciente, a depender de seu objetivo, pode passar por cirurgias extremas. Homens trans buscam extração das mamas, do útero e dos ovários. Mulheres trans podem obter implante de próteses mamárias e extração do pomo de adão. Todos os procedimentos são oferecidos no SUS, que faz também a redesignação de pênis para vagina desde 2008. As operações só ocorrem depois de o paciente estar inscrito no processo de transexualização na rede pública há dois anos. A cirurgia de alteração de vagina para pênis ainda não é autorizada na rede pública.
A crise fiscal da União e dos estados dificulta a expansão de todo programa público. As consultas médicas não sofrem cortes, mas cresce a dificuldade no agendamento de cirurgias e fornecimento de hormônios. “A oferta do atendimento na rede pública é um avanço enorme, mas a espera por atendimento é grande, e não vejo melhora no curto prazo. Por isso, há muita operação clandestina”, diz Keila Simpson, presidente da Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Pelo SUS, foram 34 cirurgias de redesignação de sexo em 2016, ante 23 no ano anterior. Os procedimentos hormonais aumentaram de 52 para 149, e o número de consultas ambulatoriais de 3.388 para 4.467.
Dados obtidos por ÉPOCA por meio da Lei de Acesso à Informação mostram que o gasto nessa frente de atendimento é minúsculo para o padrão do serviço público. As 57 cirurgias feitas nos últimos dois anos custaram ao SUS R$ 78 mil e os tratamentos hormonais feitos nos últimos três anos R$ 12 mil. “Amigas minhas conseguiram retirar hormônios gratuitamente, mas eu nunca consegui”, diz a cabeleireira Sandra. Para evitar que as características masculinas retornem, ela desembolsa R$ 150 por mês. O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), enfrenta uma crise aguda e faz só uma cirurgia por mês. Sem R$ 40 mil disponíveis para pagar pela intervenção, Maria Eduarda Aguiar sonha com a reabertura da fila, fechada desde 2011, para conseguir a intervenção genital que Sandra conseguiu, em 2015, depois de quatro anos de espera.

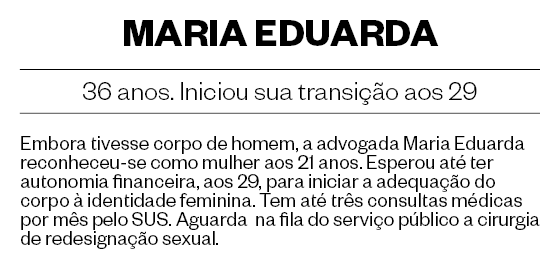
Aos 21 anos, ela entendeu que era uma mulher trans, mas preferiu esperar a independência profissional antes de tomar hormônios, aos 29. Chegou a procurar endocrinologistas que a acompanhassem, mas, sem sucesso – ainda não tinha o laudo de disforia de um psiquiatra –, optou por tomar hormônios por conta própria. Chegou ao Iede somente cinco anos depois, em 2015, época em que passou a participar de encontros da comunidade LGBT. Hoje, aos 36 anos, atua em organizações de defesa dos direitos humanos ligados à sexualidade. Tem muito que fazer. Márcia Brasil, coordenadora do processo de transexualização no Hupe, lista os obstáculos à expansão do serviço público: a precariedade do SUS, o desconhecimento do tema e um preconceito difuso, que ainda questiona a necessidade do atendimento, básico para a saúde desses cidadãos.

Nenhum comentário:
Postar um comentário