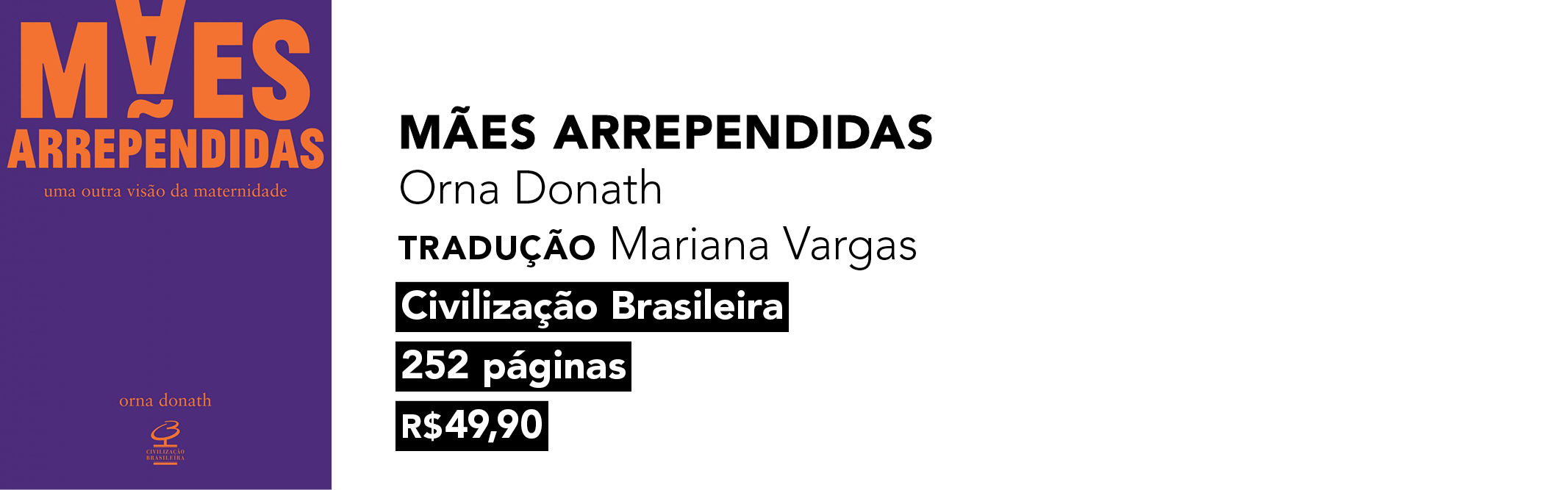Nos últimos dois anos, Orna Donath, 41, foi alvo de ataques e motivo de agradecimentos. Desde que publicou, em dezembro de 2015, um estudo sobre mulheres que gostariam de apagar a experiência da maternidade de sua vida, a socióloga israelense enfrentou, de um lado, manifestações de raiva dos que negam o arrependimento como um sentimento possível às mães e, no espectro oposto, de gratidão por parte de quem deseja questionar “o reino mítico” da maternidade.
Em Mães arrependidas, recentemente publicado no Brasil pela Civilização Brasileira, Donath entrevista 23 mulheres israelenses que não apenas rejeitaram a maternidade ou tiveram dificuldades para se ajustar a ela, mas que, se pudessem voltar no tempo, jamais teriam colocado uma criança no mundo. Não porque não amem seus filhos, mas porque se sentem limitadas, infelizes e alienadas no papel de mães. De diferentes grupos sociais, com idades entre 26 e 73 anos (e já avós), muitas delas não entendem se a maternidade foi algo que buscaram ou que simplesmente aconteceu. Outras têm consciência de que encarnaram esse papel por pura imposição do parceiro, da família ou de determinado contexto social.
Em Mães arrependidas, recentemente publicado no Brasil pela Civilização Brasileira, Donath entrevista 23 mulheres israelenses que não apenas rejeitaram a maternidade ou tiveram dificuldades para se ajustar a ela, mas que, se pudessem voltar no tempo, jamais teriam colocado uma criança no mundo. Não porque não amem seus filhos, mas porque se sentem limitadas, infelizes e alienadas no papel de mães. De diferentes grupos sociais, com idades entre 26 e 73 anos (e já avós), muitas delas não entendem se a maternidade foi algo que buscaram ou que simplesmente aconteceu. Outras têm consciência de que encarnaram esse papel por pura imposição do parceiro, da família ou de determinado contexto social.
Doutora em sociologia e pesquisadora da Universidade Ben-Gurion do Negev, em Israel, Donath defende que essas mulheres precisam estar no centro do debate sobre maternidade compulsória, já que o arrependimento é o que melhor pode nos conduzir pelos caminhos muitas vezes tortuosos que levam uma mulher a se tornar mãe. O sentimento, ela defende, funciona como um alarme que nos convida a repensar políticas de reprodução e nossas idealizações sobre a figura materna.
Com o estudo, que se estendeu de 2008 a 2013, Donath não pretende apenas personalizar o arrependimento e reconhecer sua existência nas histórias dessas 23 mulheres, mas responsabilizar as sociedades pelos processos históricos que nos trouxeram até aqui. A socióloga, ela mesma execrada por rejeitar a maternidade em um país no qual cada mulher deve ter ao menos três filhos, concedeu uma entrevista por e-mail à CULT sobre sua trajetória de mais de uma década de estudos no campo dos direitos reprodutivos das mulheres.
CULT – Como foi a experiência de rejeitar a maternidade em um país em que há uma pressão política para que as mulheres se tornem mães?
Orna Donath – Depois de 14 anos estudando o campo da reprodução, da maternidade e da não maternidade, posso dizer que não estou familiarizada com nenhuma sociedade em que não haja algum tipo de pressão para que as mulheres se tornem mães – pressão que pode ser sugerida ou manifestada abertamente. Ainda assim, as nações precisam de um alto percentual de nascimentos e, por essa razão, é preciso que as mulheres se tornem mães. Em Israel, essa necessidade é manifestada aberta e diariamente. Portanto, as mulheres que não querem ser mães estão sendo tratadas como “loucas, egoístas, não verdadeiramente femininas e perigosas”. São vistas como traidoras das ordens religiosa, nacionalista, patriótica, patriarcal, heteronormativa e social.
A popularização da agenda feminista não contribuiu para retirar o estigma das mulheres que rejeitam ou se arrependem da maternidade? Por quê?
Parece que infelizmente não. Ainda vemos, em muitos países, sociedades e grupos sociais, mulheres serem tratadas como traidoras e/ou monstros quando dizem outras coisas que não o esperado sobre a maternidade. Há mais “trabalho” a ser feito no sentido de questionar a noção essencialista de que “mulheres reais” são iguais a mães ou a mães satisfeitas. Acredito que ainda haja diferentes tipos de rejeição ao pensamento e ao ativismo feminista e, portanto, oferecer uma perspectiva feminista a respeito do arrependimento da maternidade poderia fazer com que muitas pessoas se recusassem a ouvir. Essas pessoas podem até pensar que o feminismo é, na verdade, a má influência que fez essas mães se arrependerem; que é o pensamento responsável por colocar essas mães contra a maternidade, contra o “destino natural das mulheres”.
São mais julgadas as mulheres que se arrependem da maternidade ou as que rejeitam a ideia de se tornarem mães?
Seria difícil medir ou quantificar, já que os dois “grupos” de mulheres estão sendo severamente julgados, ao menos em Israel. Um critério que tende a inclinar essa escala é que “ao menos mulheres que não querem ser mães não têm filhos para machucar com seus sentimentos ou decisões”. Assim, mães que se arrependem tendem a ser vistas pela sociedade como o que há de mais vil.
Por que é preciso ouvir essas mulheres, as que se arrependem, e não somente as que têm dificuldade para se ajustar à maternidade?
Ouvir cuidadosamente as mães arrependidas, sem estigmatizá-las como irresponsáveis, nocivas, desleixadas ou loucas pode reduzir o sofrimento na vida delas e na vida dos seus filhos. Também pode dar mais espaço de manobra às mulheres que não são ou não sabem se querem ser mães – para que possam decidir por conta própria, já que apenas elas sabem o que querem ou o que não querem; o que são capazes ou não de fazer, e são as únicas que melhor sabem quais são as suas circunstâncias sociais.
Acredito que o debate sobre se arrepender da maternidade não deveria ser deslocado para um debate sobre a ambivalência de sentimentos em relação a ela, já que são coisas diferentes: enquanto a experiência do arrependimento envolve sentimentos ambivalentes, a ambivalência em relação à maternidade não implica necessariamente o arrependimento. Há mães que vivenciam sentimentos ambíguos, mas que não se arrependem de terem se tornado mães; e há mães que se arrependem de terem se tornado mães e que não têm sentimentos dúbios quanto a isso. Em outras palavras, arrependimento não lida com a pergunta como eu posso ficar à vontade com a maternidade?, mas com a experiência de que se tornar mãe foi um erro.
Minha insistência no fato de que o arrependimento não deve ser deixado para trás, e que deve estar inclusive no centro do debate, origina-se da compreensão de que ao fundir ambivalência e arrependimento, tratando-os como se fossem iguais, remove-se a possibilidade de ouvir o que as mães que lamentam ter dado à luz têm a dizer. Se nos apressarmos apenas para falar sobre as dificuldades da maternidade, esvaziamos o arrependimento e neutralizamos qualquer habilidade de questionar a máxima de que a maternidade é necessariamente uma experiência que vale a pena para todas as mães em todos os lugares. Além disso, essa junção continua preservando o status quo, já que viramos as costas para uma das principais questões que nascem do arrependimento: a transição para a maternidade em si; o espaço limitado que mulheres têm enquanto sujeitos que devem considerar e determinar por si mesmas se querem parir e criar filhos ou não.
Por que nem mesmo os estudos feministas abordam a maternidade do ponto de vista do arrependimento?
Essa é uma pergunta muito boa e importante. Acredito que uma possibilidade de explicação pode ser um tipo de reação aos escritos de Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Shulamith Firestone, que exploraram diversas consequências da maternidade na vida das mulheres em um determinado contexto social. Desde os anos 1980 a obrigação de se tornar mãe era, em termos gerais, deixada às margens dos estudos feministas. Dessas décadas em diante, a maior parte dos escritos e das pesquisas sobre maternidade se dedicaram a análises críticas das condições políticas, étnicas e econômicas sob as quais as relações maternas eram formadas e realizadas, com a intenção de criar um roteiro mais elaborado das experiências de maternidade das mulheres. Esse conjunto de conhecimento estabelecido é inestimável, por mais incompleto que seja – e ainda que necessite de muito esforço para ser harmonizado com as mutáveis realidades sociais contemporâneas.
Ainda assim, eu sugiro que essas duas correntes – afastar a obrigação de se tornar mãe enquanto se negligencia o arrependimento – estejam inter-relacionadas e se manifestem de duas formas: primeiro, a maioria dos escritos sobre os relatos das mães lida com sentimentos e experiências de mães de bebês e crianças pequenas; ou seja, tratam do período inicial que se segue à transição para a maternidade. A relativa escassez de referências a experiências de mães de crianças mais velhas sugere que apenas um pequeno espaço seja concedido aos relatos retrospectivos das mães ao longo dos anos. Em segundo lugar, a maior parte desses escritos lida com sentimentos e experiências das mães enquanto tais. Dificilmente há registros sobre seu estado emocional em retrospecto, relacionado à transição à maternidade. Quando há, geralmente tratam da relutância das mulheres em se tornarem mães. Dessa maneira, a discussão tende a ser limitada a uma arena que pertenceria às “outras mulheres”, aquelas que aparentemente nada têm a ver com a vida das mães.
Essas pesquisas atuais que estamos observando ao longo das últimas décadas sugerem que mesmo os muitos espectros do discurso feminista podem, frequentemente, realçar a mesma máxima essencialista de acordo com a qual a transição para a maternidade vale a pena e não necessita ser reexaminada com o passar do tempo. Em outras palavras, a maternidade é apresentada como um reino mítico, ao menos enquanto se mantém de fora da esfera humana do arrependimento.
No livro, há histórias de mulheres que tiveram filhos porque se sentiram prontas ou porque genuinamente queriam ser mães – e que ainda assim vivenciaram o arrependimento. O que explica essa desilusão com a maternidade?
Desde a infância nos dizem que a maternidade é a essência da vida das mulheres e que cada uma de nós vai sentir que todas as dificuldades no processo de criação dos filhos valerão a pena – não importa quem ela seja, o que seja capaz de fazer, quais tenham sido seus outros sonhos e desejos, e em quais circunstâncias econômicas e de saúde ela se encontre. Também nos disseram que a maternidade faria “tudo ficar bem”, como se você fosse renascer como uma pessoa que mereça ser chamada de “mulher”; renascer como uma pessoa que mereça ser tratada como parte de algo. As mães que participaram do meu estudo, aquelas que genuinamente quiseram ser mães, descobriram mais tarde que a maternidade não apenas não resolveu questões e problemas anteriores, como criou ainda mais caos na vida delas. Depois da maternidade, sentiram-se limitadas e alienadas.
Há quem enxergue uma contradição no fato de uma mulher amar seus filhos, mas odiar a maternidade. Como vê isso?
Quase todas as mulheres que participaram do estudo disseram diversas vezes que amam seus filhos como seres humanos, que os amam da maneira como são – mas que odeiam estar na posição de mães. Uma vez que muitas delas sentiram arrependimento a partir do momento em que descobriram a gravidez, podemos entender que isso não tem a ver com a personalidade da criança, mas com o entendimento de que a maternidade poderia não ser para elas. Talvez as pessoas possam compreender melhor se pensarem na situação de uma mulher que ama profundamente a pessoa com quem ela vive; ela honestamente ama essa pessoa, mas não sente que aquilo está funcionando como uma relação romântica, quer terminar, e se arrepende do dia em que aquilo começou. Ela não tem nada de ruim a dizer sobre seu parceiro, mas o relacionamento em si não é desejado por ela. Então as mulheres no estudo amam e se arrependem ao mesmo tempo, e eu não acredito que temos que encarar isso como um paradoxo, já que não estamos encarando nossos mundos emocionais de forma binária.
Sei que as pessoas devem ler minhas palavras e pensar “como ela pode comparar um parceiro romântico a uma criança?”, mas eu diria que a maternidade é um relacionamento intersubjetivo também. A maternidade pode mudar a vida de uma mulher de maneira que não poderia ser prevista até um segundo antes de a criança estar ali. Então, para mim, faz sentido que haja mulheres que só depois do nascimento sintam que se arrependeram da maternidade.
Se deixarmos de tratar a maternidade como um reino mágico e olharmos para as mães como seres humanos, então será possível compreender que mulheres de carne e osso podem pensar e sentir que cometeram um erro ao entrar nesse relacionamento, mesmo amando as crianças.
Quão longe estamos de compreender que a maternidade não é uma espécie de chamado natural que chega para todas as mulheres?
Há uma linda frase de Ulrich Beck e Elizabeth Beck-Gernseim que diz que vivemos em uma era de “não mais, mas ainda não”. Acredito que estamos nos afastando da noção de que a maternidade é um chamado natural para toda e qualquer mulher, mas ainda não chegamos lá e ainda há um caminho a percorrer. Mulheres de todo o mundo ainda são pressionadas para serem mães de diferentes formas, uma delas é a tendência horrenda e desoladora de limitar o acesso das mulheres ao aborto.