Por Edvan Lessa
Rosa começou a trabalhar como doméstica, em Salvador, em troca de melhores condições para a família, ainda na adolescência, quando conheceu um namorado. Eles noivaram num almoço simples entre familiares, na cidade dela, no interior baiano, e retornaram à capital. Na manhã seguinte a uma festa com amigos do noivo, Rosa levantou da cama desorientada, abriu a porta dos fundos e só se deu conta de que estava sem roupa porque uma vizinha a alertou.
Daquele dia em diante, prestes a completar 17 anos, a autônoma passou a transcorrer por rios vermelhos – um eufemismo para o sofrimento dela. Os lençóis da cama, sujos de sangue, indicavam a violência sexual. Um aborto inseguro, sob hemorragia, quase três meses depois, marcavam a redenção de um namorado que, até pouco tempo, admitia a virgindade de Rosa e jamais a pressionou quanto ao sexo. “Se eu não tomasse um remédio para perder, eu iria me matar porque eu não queria ter um filho de um estuprador”, narra.
Apoiada pela vizinha e pela ex-patroa, Rosa prestou queixa, se demitiu do trabalho e voltou a morar no interior. Aos 44 anos hoje, lembra vividamente que entrou em desespero quando exames específicos mostraram a gravidez não planejada. “Eu fiquei desesperada. Eu dava murro na minha barriga porque não tinha dinheiro para comprar o Cytotec (misoprostol), não dormia. Inventava um bocado de chá; tomava, passava mal, mas não descia nada”, conta.
Na época, enquanto era julgado o processo contra o ex-noivo, Rosa solicitou o direito ao aborto legal, mas não chegou a aguardar o procedimento seguindo recomendações médicas. Se optasse pela interrupção de maneira segura, Rosa teria sido internada e encaminhada a um centro cirúrgico; submetida a anestesia local ou geral com eventual dilatação e retirada do material com uma pinça ou por aspiração.
Mulheres como Rosa e suas quatro irmãs, cujas experiências com aborto foram narradas em cinco reportagens, incluindo esta, costumam iniciar a interrupção com o misoprostol, um dia antes, e vão ao hospital para concluir o procedimento. Lá, realizam a curetagem, um método para limpeza do útero.
Conforme Rosa se lembra, foram ingeridos alguns comprimidos do medicamento e aplicados outros no canal vaginal. “Eu mesma coloquei, eu mesma perdi. Falei com uma pessoa que trabalhava no hospital, no dia eu fui, a pessoa estava trabalhando e foi quem me ajudou lá. Senão, ficaria mofando porque o pessoal não concordava com isso”, detalha, referindo-se à negligência e possível violência obstétrica a qual poderia ser exposta.
A dona de casa justifica que foi por medo de, no final, ser obrigada a ter o filho de seu algoz, que optou por descontinuar a gravidez sozinha. “Eu fiquei com medo de ir pra Salvador e me darem alguma coisa que impedisse de tirar. A família dele, que tinha condições, queria que a gente casasse e eu deixasse o filho”, lembra. “Eu também não ia parir, pegar meu filho e dar a ninguém porque só o fato de ter me faria odiá-lo e eu não queria odiar um filho”, sustenta.
Histórias como a de uma menina argentina, de 11 anos, submetida em fevereiro deste ano a uma cesárea quando deveria ter direito ao aborto legal, após um abuso, mostram que o temor de Rosa é plausível. “Mesmo para mulheres que poderiam realizar o aborto de forma legal, ainda existem muitas barreiras de acesso, seja pelo número limitado de serviços que prestam essa assistência no país, exigência de documentos que não estão na norma técnica do Ministério da Saúde e relato de objeção de consciência pelos profissionais para não realização do procedimento”, explicita Rosa Domingues, do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Aborto legal
O Código Penal Brasileiro, desde 1940, permite o aborto em serviços públicos de saúde autorizados, desde que não haja outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez decorre do estupro, como no caso de Rosa. Em 2012, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou o aborto em casos de anencefalia do feto. Quando não se enquadra em nenhum desses casos, a interrupção da gravidez é considerada crime contra a vida humana, prevista pelo Código Penal desde 1984.
O procedimento em mulheres grávidas por violência sexual pode ser feito até a 20ª ou 22ª semana de gestação, com peso do feto previsto de até 500 gramas. O prazo não se aplica em casos de risco de vida ou anencefalia, que podem ser feitos a qualquer momento da gestação e sem autorização judicial. O boletim de ocorrência também não é uma exigência, nem mesmo em casos de estupro – o registro é feito dentro do hospital, com apoio de uma equipe multidisciplinar quando a mulher procura o serviço para abortar legalmente.
“Mulheres que já abortaram e conseguiram sobreviver estão sujeitas há riscos jurídicos – enquanto não ocorra a prescrição do crime que, pela lei atual, elas teriam praticado – e a um estigma social que pode ser bastante intenso e causar-lhes danos psicológicos graves”, ressalta Cristina Telles, da Clínica UERJ Direitos, um núcleo universitário que atua na promoção e defesa de direitos fundamentais no país. “Descriminalizar teria um efeito simbólico muito importante, de transmitir a essas mulheres que a difícil decisão que elas tomaram não é um equivalente de assassinato”, declara.
Telles participou, em agosto do ano passado, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 442, que discutiu, no STF, a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. A tese central defendida na ADPF – ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – é a de que as razões jurídicas que moveram a criminalização do aborto pelo Código Penal de 1940 não mais se sustentam.
Caso o julgamento acolha a ação, a equipe médica envolvida no procedimento de interrupção da gestação, assim como a mulher, também não poderá ser punida. “No curto prazo, acredito que essa pauta não avançará, mas, em termos normativos formais pelo menos, pode também não retroceder”, alerta.
Não há previsão para que o tema seja deliberado pela corte. Segundo o STF, os autos estão no gabinete da relatora, ministra Rosa Weber, que ainda não liberou o processo para julgamento no plenário.
Concepção de vida
Um dos argumentos apresentados por Cristina Telles durante a ADPF mencionava que a vida não precisa ser protegida pelo Direito Penal e que o caráter de vida atribuído ao embrião ou feto já recebe tutela pela lei brasileira. Um exemplo prático disso, conforme foi exposto, é a possibilidade de haver descarte de embriões excedentes de tratamentos de fertilidade.
“A possibilidade de descarte de embriões segue o que regulamenta o Conselho Federal de Medicina (CFM) na Resolução 2168/2017, no item V”, coloca Newton Eduardo Busso, presidente da Comissão Nacional Especializada em Reprodução Humana, da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo). A resolução mencionada por Busso denota a tensão esboçada no argumento de Cristina Telles durante a audiência do STF.
Conforme a resolução do CFM, nos serviços especializados em reprodução assistida, os embriões podem ser “descartados”, se esta for a vontade dos pacientes. Quando os responsáveis descumprirem o contrato pré-estabelecido com a clínica, ou não são localizados, os embriões são “abandonados”. Se há precedentes legítimos para a manipulação e descarte de material embrionário, em clínicas de reprodução, porque a interrupção de uma gravidez não é reconhecida como direito reprodutivo da mulher?
Quando questionado sobre esse aspecto contraditório, Bosso ressaltou não haver lei que regulamente a reprodução assistida comparando embriões descartados a aborto ou que defina o zigoto – célula formada após a união entre o óvulo e o espermatozoide – como ser vivo. Mas, na prática, religiosos e conservadores, ocupantes de cargos políticos, a exemplo da atual ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, endossam fortemente o argumento pró-vida que mina o debate pela legalização do aborto, obstinados pela proteção ao nascituro.
Opinião semelhante é a do principal obstetra da cidade onde vivem três das irmãs de Rosa. “Sou contra o aborto. Existem situações em que o aborto é legal. Nesses casos amparados pela lei, concordo que esse procedimento seja realizado. Fora isso, pela minha formação cristã, eu não aceito fazer o procedimento”, justifica. Segundo ele, sempre que possível procura desestimular a interrupção de uma gravidez.
“O que desejamos é que essa quantidade enorme de mulheres, maioria pobres e negras, casadas, mães de outros filhos, muitas vezes abandonadas por seus companheiros, parem de morrer na tentativa de um aborto sem acompanhamento, sem assistência, com culpa religiosa e do Estado”, assevera Valéria Vilhena, do grupo de ativistas digitais Evangélicas pela Igualdade de Gênero. Para ela, a crença religiosa não deve reger políticas púbicas.
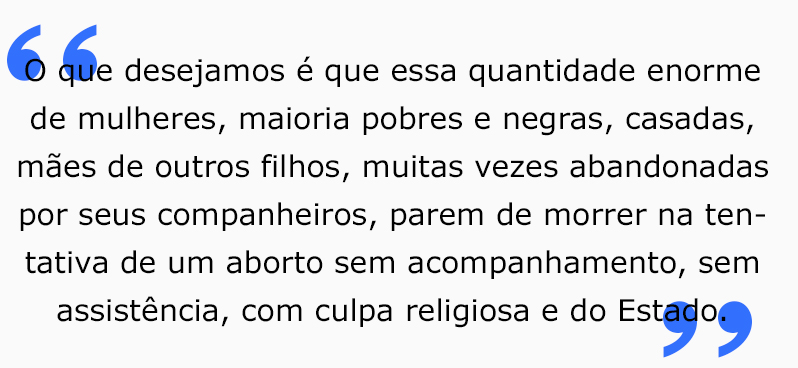
VALÉRIA VILHENA,grupo Evangélicas pela Igualdade de Gênero
Entidades de Direitos Humanos, historicamente, tem se mobilizado em favor da autonomia das mulheres na discussão de assuntos que digam respeito a elas mesmas. Como alertam especialistas, tentar responder a pergunta sobre ser a favor ou contra o aborto não daria condições para que o tema fosse tratado numa perspectiva de saúde pública, sem tabus, tirando o estigma, em razão da clandestinidade, atribuído a mulheres que abortam.
“Os direitos humanos defendem a representatividade para tratar de temas que nos digam respeito, respeitando lugar de fala, com participação social nas decisões políticas que afetam a vida privada, ampliando o debate para além das esferas de poder que hoje ainda são majoritariamente representadas por homens”, advoga Fabiana Galera, defensora pública federal e conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH).
Obstáculo
Nem todas as mulheres sabem dos direitos quanto o assunto é aborto, nem em quais estabelecimentos o procedimento pode ser feito. A ARTIGO 19, uma organização britânica de direitos humanos, que também atua no Brasil, reconhece a dificuldade de se obter informações relacionadas ao aborto legal no país como um grave obstáculo à efetivação dos direitos das mulheres e um enorme risco para a saúde pública.
Em dezembro do no passado, um estudo feito pela organização evidenciou como a ausência de acesso à informação viola o direito ao aborto legal. A Bahia é um dos nove estados com páginas de órgãos de saúde dedicadas à saúde da mulher, mas não publicava, até então, nenhuma informação sobre direitos sexuais e reprodutivos, incluindo os serviços disponíveis para aborto legal.
Atualmente existem 12 serviços de saúde inscritos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) que prestam atendimento à mulher em situação de violência no estado, aponta a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab). Destes, 3 estão cadastrados para realizar a atenção a interrupção de gravidez nos casos previstos em lei: o Centro de Parto Humanizado João Batista Caribé, o Hospital da Mulher e o Instituto de Perinatologia da Bahia (Iperba).
“Precisamos avançar em políticas públicas de educação sexual e saúde pública com acesso universal a todas as mulheres, e a criminalização da prática impede esse avanço, colocando mulheres que abortam na clandestinidade, arriscando as suas vidas e saúde física e psíquica”, salienta Fabiana Galera. Ainda segundo Galera, a incriminação do aborto não permite que o Estado efetive acesso à saúde pública de forma universal.
A cabeça
Na primeira vez em que abortou, uma colega de Rosa, maior de idade, comprou o Cytotec, mas ela aprendeu como usá-lo ouvindo relatos de terceiros. Por conta da violência sofrida, os abortos dentro da família, fatalmente, começaram com ela. No depoimento das suas irmãs, Rosa aparece como a “cabeça de tudo” pela cumplicidade, apoio e orientação dados em algumas situações.
Segundo Rosa, a mãe chorava ao saber pelo que as filhas tinham passado e a acusava de tratar a interrupção como saída para as mais novas, chamando-a, inclusive, de “professora dos abortos”. “Eu tinha fama de que botaria todo mundo a perder, mas nenhuma das minhas irmãs se perdeu por causa de mim”, assegura. Os relatos de Violeta, Anil, Preta, Oliva e Rosa atestam que motivações particulares as conduziram em cada situação vivida, não por força de Rosa.
Ao mesmo tempo, Rosa afirma, a visão imatura naquele período da vida, marcado por enorme vulnerabilidade, fazia com que o sofrimento da interrupção insegura fosse naturalizado por todas elas. Rosa não apenas era capaz de comprar o Cytotec, como já ajudou a ocultar lençóis ensopados de sangue da mãe e acompanhou as irmãs ao hospital, a exemplo de Oliva, aos 14 anos.
“Todas as mulheres devem ter direito ao que de melhor a medicina oferece, assim como homens e crianças. Descriminalizar o aborto vai apenas permitir que quem quiser interromper uma gestação possa procurar um profissional competente e que aceite fazer num local adequado, como qualquer procedimento médico deve ser”, salienta Rosires Andrade, presidente da Comissão Nacional Especializada de Violência Sexual e Interrupção da Gestação Prevista em Lei, da Febrasgo.
Histórias
Mãe solteira de uma adolescente de 13 anos, Rosa temeu a maternidade até os 22 anos e enfrentou dificuldades para engravidar até os 32, tendo sofrido dois abortos espontâneos. O trauma do abuso perdura até hoje. “Depois de uns dois anos e pouco eu fui pensar em me relacionar com alguém porque eu tinha medo de homens. Por incrível que pareça, até hoje eu não confio”, sublinha Rosa, recém-separada após uma traição.
“Podemos aprender com a experiência das mulheres e entender que essas são histórias comuns de mulheres comuns: mulheres que têm família, outros filhos, que são casadas, trabalham e vivem uma vida comum como qualquer uma de nós”, diz Débora Diniz, pesquisadora da Anis – Instituto de Bioética. Histórias de abortos repetidos dentro de uma mesma família, como no caso de Rosa e suas irmãs, ela diz, deveriam provocar inquietações importantíssimas que hoje não se consegue responder de forma ampla e adequada.
Uma dessas questões, salientadas por Diniz, expõe como o serviço de saúde pode ter errado para que isso esteja acontecendo ou mesmo se as mulheres em questão tiveram pleno acesso à informação e ao método mais adequado à sua saúde. “Sem dúvida, contar e ouvir histórias de aborto é uma forma de resistência à perversidade da lei que criminaliza as mulheres”, reconhece.
Em seus depoimentos, Rosa e suas irmãs tendem a reproduzir discursos facilmente utilizados por pessoas pró-vida para descaracterizá-las, ao mesmo tempo em que não demonstram consciência sofisticada sobre fatores estruturais de suas vidas, a exemplo da relação muitas vezes tóxica com seus parceiros. Como não são as únicas irmãs dentro da família, comumente são alvo de comentários inquisidores dos parentes. E, curiosamente, dimensionam suas histórias a partir da experiência de maior vulnerabilidade.
“Certamente, o aborto na vida da mulher negra, na maioria das vezes, não é uma escolha, é uma alternativa para o não agravamento de sua vulnerabilidade social”, expõe a representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, no município onde Rosa vive. Apesar de reconhecer a importância da atenção às mulheres, em sua diversidade, a entidade não debateu, ao menos entre 2014 e 2018, sobre o tema. Ainda segundo a porta-voz, há uma ausência dos registros referente a essa demanda.
“O aborto é um tema polêmico que vai suscitar uma série de coisas no sujeito. Para tratar do assunto, você suscita o cunho moral, religioso, legal e a maioria dessas mulheres fica assentada apenas em duas dessas abordagens: o cunho moral e o cunho religioso”, explica a jurista e professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Carla de Quadros. “Elas desconhecem a autonomia do corpo, a consciência do ser mulher, a plenitude, mesmo aquelas que já abortaram”, continua.
Responsável pela criação em tempo integral de Branca, filha única, Rosa se reinventa entre o artesanato e as vendas para o sustento de ambas. Desde os sete anos, a jovem sabe da violência sofrida e do aborto enfrentados pela mãe. A preocupação de Rosa com a filha envolve superar o constrangimento que seus pais tinham para falar sobre temas sensíveis dentro de casa e alertar a menina sobre o comportamento predatório de alguns homens. “Eu digo a ela que não vou impedi-la de namorar, mas que não dê confiança a homem porque homem é bicho, um bicho traiçoeiro”, alerta.

Nenhum comentário:
Postar um comentário