Os jovens criados na ditadura de Pinochet são agora uma destacada geração literária
Compartilham uma reconstrução da memória entre o íntimo e o político
Ricardo de Querol 11 JUL 2015

Da esquerda para a direita: Nona Fernández, Diego Zúñiga, Alejandra Costamagna e Rafael Gumucio, em Santiago do Chile. / nicolás abalo
Duas meninas fumam o primeiro cigarro e bebem restos de bebidas alcoólicas escondidas aproveitando a pouca atenção dos adultos durante a festa na casa de uma delas, no Chile. Não entendem o entusiasmo na comemoração do triunfo do “não” no plebiscito que acabou com a ditadura de Pinochet em 1988. Entre os adultos aparecem, no meio da alegria, velhos rancores – “porco de merda, cagão, você não brinda por ninguém, filho da puta” –, por isso as meninas preferem se concentrar em sua iniciação nos vícios.
É o ponto de partida de La Resta (A Subtração) de Alia Trabucco (Santiago, 1983), uma das surpresas da temporada literária no Chile. Os que nasceram nos anos setenta e oitenta, que eram crianças durante a repressão, cujos pais protegiam mais com silêncios que compartilhando informações, agora são uma geração destacada de narradores. O olhar deles tem pontos em comum: o primeiro é uma tentativa de preencher as lacunas deixadas por esses silêncios. O autobiográfico tem um grande peso em suas obras, nas quais a memória passa do íntimo ao político. Eles têm uma visão crítica da transição para a democracia em seu país. Coincidem no gosto pelo conto ou o romance curto. E são abundantes alguns traços estilísticos: muitos exercem uma prosa direta, quase cinematográficas, de frases curtas. Mas também é possível ver influências da poesia e do vanguardismo, formatos arriscados. Em alguns casos, o minimalismo é levado ao extremo.
Sergio Parra, livreiro e editor veterano muito respeitado que dirige a editora Metales Pesados, afirma que desde o boom não aparecia na América Latina uma geração de narradores tão facilmente reconhecível quanto essa. “Eles compartilham a mesma coisa: ouvem a mesma música, veem filmes, fazem roteiros, programas de humor. Têm influência da multimídia, da performance. Não têm medo de escrever. E não precisam ser autores de um grande romance”. A obra deles, muitas vezes publicada em livros de poucas páginas, é lida como um quebra-cabeça. Estão longe da grandiloquência.
As referências mais claras são Roberto Bolaño, o autor maldito que alcançou a glória após sua morte com o romance 2666, e o poeta Nicanor Parra. Alberto Fuguet, um do que se rebelou contra o realismo mágico em McOndo (Mondadori, 1996), ou o argentino Cesar Aira são outras das influências destacadas. Babelia conversou com dez desses autores em Santiago do Chile, Valparaíso, Londres e (via eletrônica) Nova York. Essas são suas reflexões.
Literatura de filhos
A expressão Literatura de filhos foi usada por Alejandro Zambra (Santiago, 1975) como título de um capítulo de Formas de volver a casa (Formas para Voltar para Casa; Cosac Naify), uma exploração de seu próprio passado. “Quem é da minha geração viveu a democracia e a adolescência ao mesmo tempo. Nós percebemos que somente a segunda era totalmente verdadeira”, diz esse autor que é professor na Universidade Diego Portales. “Na década de 90 vivemos uma forte sensação de orfandade. Todos achavam que os problemas já estavam arquivados, mas percebemos que não era assim.” E acrescenta: “Para explicar qualquer coisa no Chile é preciso voltar à ditadura. É muito difícil não falar dela.”
Para a crítica Lorena Amaro, a dos filhos é “uma literatura cheia de culpas: a ditadura foi tão longa que deu tempo para que as crianças crescessem e entendessem o que estava acontecendo, mas não durou tanto para que pudessem lutar contra ela.” Assim, longe da épica, esses escritores denunciam “o silêncio da classe média, seu servilismo às elites e sua cumplicidade com as heranças do poder no Chile.”
Lina Meruane (Santiago, 1970) expressa seu “espanto” com a expressão “filhos da ditadura”. “Que castigo, penso, que esse seja o nome dado a essa geração como se tivéssemos sido parte.” Essa autora identifica a literatura do “pós-memória” como “relatos de segunda mão onde os narradores explicam como podem o que mais ou menos viram ou intuíram”, explica por e-mail de Nova York. Em 2000, Meruane publicou Cercada (reeditado por Cuneta), sobre a relação entre os filhos de um torturador e de suas vítimas. “Minha geração abordou esse tema muito cedo”, diz. Mas agora estão surgindo diferentes pontos de vista, entre os quais destaca o de Trabucco, porque em seu livro “a memória é uma coisa cinzenta: irrespirável e difícil de tirar de cima”.
Duas meninas fumam o primeiro cigarro e bebem restos de bebidas alcoólicas escondidas aproveitando a pouca atenção dos adultos durante a festa na casa de uma delas, no Chile. Não entendem o entusiasmo na comemoração do triunfo do “não” no plebiscito que acabou com a ditadura de Pinochet em 1988. Entre os adultos aparecem, no meio da alegria, velhos rancores – “porco de merda, cagão, você não brinda por ninguém, filho da puta” –, por isso as meninas preferem se concentrar em sua iniciação nos vícios.
É o ponto de partida de La Resta (A Subtração) de Alia Trabucco (Santiago, 1983), uma das surpresas da temporada literária no Chile. Os que nasceram nos anos setenta e oitenta, que eram crianças durante a repressão, cujos pais protegiam mais com silêncios que compartilhando informações, agora são uma geração destacada de narradores. O olhar deles tem pontos em comum: o primeiro é uma tentativa de preencher as lacunas deixadas por esses silêncios. O autobiográfico tem um grande peso em suas obras, nas quais a memória passa do íntimo ao político. Eles têm uma visão crítica da transição para a democracia em seu país. Coincidem no gosto pelo conto ou o romance curto. E são abundantes alguns traços estilísticos: muitos exercem uma prosa direta, quase cinematográficas, de frases curtas. Mas também é possível ver influências da poesia e do vanguardismo, formatos arriscados. Em alguns casos, o minimalismo é levado ao extremo.
Sergio Parra, livreiro e editor veterano muito respeitado que dirige a editora Metales Pesados, afirma que desde o boom não aparecia na América Latina uma geração de narradores tão facilmente reconhecível quanto essa. “Eles compartilham a mesma coisa: ouvem a mesma música, veem filmes, fazem roteiros, programas de humor. Têm influência da multimídia, da performance. Não têm medo de escrever. E não precisam ser autores de um grande romance”. A obra deles, muitas vezes publicada em livros de poucas páginas, é lida como um quebra-cabeça. Estão longe da grandiloquência.
As referências mais claras são Roberto Bolaño, o autor maldito que alcançou a glória após sua morte com o romance 2666, e o poeta Nicanor Parra. Alberto Fuguet, um do que se rebelou contra o realismo mágico em McOndo (Mondadori, 1996), ou o argentino Cesar Aira são outras das influências destacadas. Babelia conversou com dez desses autores em Santiago do Chile, Valparaíso, Londres e (via eletrônica) Nova York. Essas são suas reflexões.
Literatura de filhos
A expressão Literatura de filhos foi usada por Alejandro Zambra (Santiago, 1975) como título de um capítulo de Formas de volver a casa (Formas para Voltar para Casa; Cosac Naify), uma exploração de seu próprio passado. “Quem é da minha geração viveu a democracia e a adolescência ao mesmo tempo. Nós percebemos que somente a segunda era totalmente verdadeira”, diz esse autor que é professor na Universidade Diego Portales. “Na década de 90 vivemos uma forte sensação de orfandade. Todos achavam que os problemas já estavam arquivados, mas percebemos que não era assim.” E acrescenta: “Para explicar qualquer coisa no Chile é preciso voltar à ditadura. É muito difícil não falar dela.”
Para a crítica Lorena Amaro, a dos filhos é “uma literatura cheia de culpas: a ditadura foi tão longa que deu tempo para que as crianças crescessem e entendessem o que estava acontecendo, mas não durou tanto para que pudessem lutar contra ela.” Assim, longe da épica, esses escritores denunciam “o silêncio da classe média, seu servilismo às elites e sua cumplicidade com as heranças do poder no Chile.”
Lina Meruane (Santiago, 1970) expressa seu “espanto” com a expressão “filhos da ditadura”. “Que castigo, penso, que esse seja o nome dado a essa geração como se tivéssemos sido parte.” Essa autora identifica a literatura do “pós-memória” como “relatos de segunda mão onde os narradores explicam como podem o que mais ou menos viram ou intuíram”, explica por e-mail de Nova York. Em 2000, Meruane publicou Cercada (reeditado por Cuneta), sobre a relação entre os filhos de um torturador e de suas vítimas. “Minha geração abordou esse tema muito cedo”, diz. Mas agora estão surgindo diferentes pontos de vista, entre os quais destaca o de Trabucco, porque em seu livro “a memória é uma coisa cinzenta: irrespirável e difícil de tirar de cima”.
Alia Trabucco. / claudio álvarez
Em um pub em Londres, onde vive, Alia Trabucco analisa a marca de sua geração: “A diferença da literatura de filhos tem a ver com o resgate de outros afetos: essa geração não aborda o passado a partir da homenagem, mas também questionando, interpelando. Surge algo mais afiado. Uma abordagem mais incômoda que em outras narrativas “. Em La Resta (A Subtração; Demipage, 2015), três daquelas crianças vão se reencontrar quando são jovens para uma viagem (quase uma fuga) na qual serão perseguidos pelos fantasmas de suas infâncias. Um passado não tão inocente de acordo com seu relato. “Há algo terrível na infância, que sempre é narrada a posteriori para a construção de uma identidade.”
Infâncias sinistras
É uma marca de identidade dessa geração: entendem a memória da infância como algo reconstruído, por si mesmo e pela família, ao longo da vida. Pouco confiável. Space Invaders (Alquimia, 2013), de Nona Fernández (Santiago, 1971), é um romance curto, entre nostálgico e aterrorizante, em que as lembranças de alunos dos colégios dos oitenta se entrelaçam com os sonhos dos adultos que os revivem. A mesma autora escreveu Fuenzalida (Random House Mondadori, 2012), a tentativa de uma mulher de reconstruir a vida de um pai ausente, um professor de artes marciais envolvido sem querer no horror. Em ambos, a fronteira entre o autobiográfico e a ficção é muito difusa.
Esses autores são perseguidos por fantasmas de sua infância. A memória é “irrespirável, difícil de se livrar”
“A condução da memória é muito subjetiva”, admite Nona Fernández. “Nenhum dos alunos de um mesmo curso se lembra das mesmas coisas. Não acredito na memória oficializada. Havia muitos buracos negros, coisas que foram inventadas. Fomos uma geração estranha que teve lucidez e consciência do que ocorria mas não chegava a entender. Ficamos sem respostas: algumas continuam sem chegar. Em alguns casos porque a dor foi muito grande; em outros porque eram daqueles que não queriam saber”. Nestes livros são numerosos os saltos no tempo, as tramas paralelas no presente e em um passado de medo, sangue e chumbo. E se indaga, com essa perspectiva, sobre o destino de tantos desaparecidos: os milhares que o regime liquidou e também os que se esconderam por trás identidades falsas.
Também são frequentes os olhares para o espaço íntimo, o doméstico e familiar, que assinalam debilidades da condição humana. Um exemplo é Alejandra Costamagna (Santiago, 1970), que escreve contos tão inquietantes como os reunidos em Animales Domésticos (Animais Domésticos) (Mondadori, 2011), onde utiliza como pretexto a presença dos mascotes para nos apresentar a uma galeria de pessoas presas da falta de comunicação. Costamagna põe o foco no detalhe, em “as merdinhas do dia a dia, os conflitos que estão encobertos por uma superfície de aparente calma”.
Minimalismo
A própria Costamagna é um exemplo da tendência à concisão. A autora reescreveu seu primeiro romance, En Voz Baja (Em Voz Baixa; LOM, 1996), comprimindo-o tanto que o converteu em um conto de 35 páginas, incluído em Había una Vez un Pájaro (Era Uma Vez um Pássaro; Sarjeta, 2013). En Voz Baja foi uma obra emblemática da literatura de filhos porque foi publicada em meados dos anos noventa, “quando a ditadura tinha deixado de ser tema (ah, era isso que queriam)”. Mas, ao revisar aquela obra de uma jovem de vinte anos (uma “pirralha” no mundo literário, admite), Costamagna entendeu que havia “ruído, explicações desnecessárias, personagens-maquete e uma linguagem altissonante”, justifica-se no epílogo. Agora reduziu a história enfocando-a no conflito entre uma filha e seu pai nos anos setenta “e ponto”.
Em um pub em Londres, onde vive, Alia Trabucco analisa a marca de sua geração: “A diferença da literatura de filhos tem a ver com o resgate de outros afetos: essa geração não aborda o passado a partir da homenagem, mas também questionando, interpelando. Surge algo mais afiado. Uma abordagem mais incômoda que em outras narrativas “. Em La Resta (A Subtração; Demipage, 2015), três daquelas crianças vão se reencontrar quando são jovens para uma viagem (quase uma fuga) na qual serão perseguidos pelos fantasmas de suas infâncias. Um passado não tão inocente de acordo com seu relato. “Há algo terrível na infância, que sempre é narrada a posteriori para a construção de uma identidade.”
Infâncias sinistras
É uma marca de identidade dessa geração: entendem a memória da infância como algo reconstruído, por si mesmo e pela família, ao longo da vida. Pouco confiável. Space Invaders (Alquimia, 2013), de Nona Fernández (Santiago, 1971), é um romance curto, entre nostálgico e aterrorizante, em que as lembranças de alunos dos colégios dos oitenta se entrelaçam com os sonhos dos adultos que os revivem. A mesma autora escreveu Fuenzalida (Random House Mondadori, 2012), a tentativa de uma mulher de reconstruir a vida de um pai ausente, um professor de artes marciais envolvido sem querer no horror. Em ambos, a fronteira entre o autobiográfico e a ficção é muito difusa.
Esses autores são perseguidos por fantasmas de sua infância. A memória é “irrespirável, difícil de se livrar”
“A condução da memória é muito subjetiva”, admite Nona Fernández. “Nenhum dos alunos de um mesmo curso se lembra das mesmas coisas. Não acredito na memória oficializada. Havia muitos buracos negros, coisas que foram inventadas. Fomos uma geração estranha que teve lucidez e consciência do que ocorria mas não chegava a entender. Ficamos sem respostas: algumas continuam sem chegar. Em alguns casos porque a dor foi muito grande; em outros porque eram daqueles que não queriam saber”. Nestes livros são numerosos os saltos no tempo, as tramas paralelas no presente e em um passado de medo, sangue e chumbo. E se indaga, com essa perspectiva, sobre o destino de tantos desaparecidos: os milhares que o regime liquidou e também os que se esconderam por trás identidades falsas.
Também são frequentes os olhares para o espaço íntimo, o doméstico e familiar, que assinalam debilidades da condição humana. Um exemplo é Alejandra Costamagna (Santiago, 1970), que escreve contos tão inquietantes como os reunidos em Animales Domésticos (Animais Domésticos) (Mondadori, 2011), onde utiliza como pretexto a presença dos mascotes para nos apresentar a uma galeria de pessoas presas da falta de comunicação. Costamagna põe o foco no detalhe, em “as merdinhas do dia a dia, os conflitos que estão encobertos por uma superfície de aparente calma”.
Minimalismo
A própria Costamagna é um exemplo da tendência à concisão. A autora reescreveu seu primeiro romance, En Voz Baja (Em Voz Baixa; LOM, 1996), comprimindo-o tanto que o converteu em um conto de 35 páginas, incluído em Había una Vez un Pájaro (Era Uma Vez um Pássaro; Sarjeta, 2013). En Voz Baja foi uma obra emblemática da literatura de filhos porque foi publicada em meados dos anos noventa, “quando a ditadura tinha deixado de ser tema (ah, era isso que queriam)”. Mas, ao revisar aquela obra de uma jovem de vinte anos (uma “pirralha” no mundo literário, admite), Costamagna entendeu que havia “ruído, explicações desnecessárias, personagens-maquete e uma linguagem altissonante”, justifica-se no epílogo. Agora reduziu a história enfocando-a no conflito entre uma filha e seu pai nos anos setenta “e ponto”.

Alejandro Zambra / ricardo de quero
Alejandro Zambra escreveu romances curtos como Bonsai (Cosac Naify), o relato sobre um casal que compartilha o erotismo e as leituras, e que começa contando o final. Suas obras não costumam chegar a cem páginas. Nem seu último livro, Facsímil (Fac-símile; Sexto Piso, 2015), que dá um novo salto formal: o texto se estrutura como um exame de acesso à universidade (a Prova de Aptidão Verbal), no qual o aluno se coloca diante de fragmentos de textos que precisa ordenar, ou descartar em parte. Com esse esquema se apresentam pequenas histórias ou reflexões do autor sobre os temas que importam para ele, alguns muito cotidianos (por que as pessoas não se cumprimentam mais nos elevadores?) e que adquirem novos sentidos, ou mais frequentemente mantêm o mesmo, conforme decidir o leitor. Com esse formato “se tornou muito relevante a possibilidade de desordenar tudo, de eliminar os detalhes e as redundâncias. Começou como uma paródia e acabou em autoparódia. Uma paródia amarga”, explica seu autor.
O íntimo, o pessoal
Muitos escritores chilenos participam da tendência (global) de que o escritor coloque a si mesmo como personagem. Embora, sublinham, a autoficção também tenha algo de mentirosa. “A honestidade de um escritor é com seu tempo, não com sua vida”, opina Zambra. “E a ficção não é o oposto da verdade, como se a vida não incluísse os sonhos!”. Nona Fernández explica de outra maneira: “Estamos em um momento em que as pessoas se disfarçam menos. E portanto pode colocar a si mesmo como personagem”.
Rafael Gumucio (Santiago, 1970) colocou-se com personagem algumas vezes. É autor de Memorias Prematuras (Debate, 2000), um livro inovador por dois motivos: primeiro, porque escrever memórias antes dos 30 não é o mais habitual; o segundo, que trazia o ponto de vista do exilado. O autor –também jornalista e humorista, apresentador de rádio e televisão – passou sua infância na França, onde sua família tinha se refugiado, e retornou ao Chile aos 14 anos. “Foi um choque. O país para o qual eu voltava não era meu país, porque não tinha nenhuma lembrança dele. Assim era uma descoberta que tinha de fazer em voz baixa”. Gumucio refletia sobre a sensação de desarraigamento em uma obra que vincula o pessoal, e portanto emocional, e o político. “Era uma confissão de fragilidade, escrita mais a partir da dúvida que da certeza”.
Gumucio não só foi personagem ele mesmo, como também colocou como protagonista sua avó, uma grande influência em sua vida, em Mi Abuela, Marta Rivas González(Minha Avó, Marta Rivas González) (Ediciones UDP, 2013). O autor considera essa mulher de vida intensa, exilada duas vezes, “o homem da casa”, um modelo de virilidade. “Venho de um mundo onde não somos inteiramente chilenos, franceses nem espanhóis”, diz Gumucio, que também morou na Espanha e nos Estados Unidos. E continua explorando seu passado de nômade. Seu novo romance, Milagro en Haití (Literatura Random House, 2015), se baseia em outra experiência familiar. Sua mãe residiu naquele país caribenho durante um tempo em que viveu um golpe de Estado e uma severa infecção depois de uma operação estética, os pontos de partida do romance. Mas ele diz que as coincidências acabam aí e todo o resto é ficção.
Lina Meruane também sai de seu país, mas não de suas raízes familiares em Volverse Palestina (Tornar-se Palestina; Literatura Random House, 2015), a crônica de sua viagem ao povoado de seus avós, na Cisjordânia. Uma estadia que despertou nela uma “consciência mais política do palestino”, e que a fez fixar-se mais no violento presente que na nostalgia da origem.
Outros episódios negros
Mas nem só sobre ditadura e transição escrevem os jovens autores chilenos. Com 28 anos, Diego Zúñiga (Iquique, 1987) fez sucesso com segundo romance, Racimo (Fragmentação; Literatura Random House, 2015), um relato em torno do desaparecimento de mais de uma dezena de garotas adolescentes que estudavam em um colégio em Alto Hospicio, no desértico norte do Chile. Aquele episódio ainda dói: os familiares das vítimas se depararam com a incompreensão, o descuido e a incompetência das autoridades (um membro do Governo chegou a sugerir que as garotas fugiram e o relacionou a sua “promiscuidade”) até que se descobriu que um psicopata estava por trás das 14 mortes na área. Sem pretendê-lo, Zúñiga produziu um romance noir – ele diz que não é autor de gênero – , ambientado em um lugar desolador e inquietante, onde também se localizava uma fábrica de armas de fragmentação, hoje proibidas. “O cemitério perfeito”, explica Zúñiga. “Não me interessava o assassino em série, falo da ferida do país, que está cheio de casos assim”.
Alejandro Zambra escreveu romances curtos como Bonsai (Cosac Naify), o relato sobre um casal que compartilha o erotismo e as leituras, e que começa contando o final. Suas obras não costumam chegar a cem páginas. Nem seu último livro, Facsímil (Fac-símile; Sexto Piso, 2015), que dá um novo salto formal: o texto se estrutura como um exame de acesso à universidade (a Prova de Aptidão Verbal), no qual o aluno se coloca diante de fragmentos de textos que precisa ordenar, ou descartar em parte. Com esse esquema se apresentam pequenas histórias ou reflexões do autor sobre os temas que importam para ele, alguns muito cotidianos (por que as pessoas não se cumprimentam mais nos elevadores?) e que adquirem novos sentidos, ou mais frequentemente mantêm o mesmo, conforme decidir o leitor. Com esse formato “se tornou muito relevante a possibilidade de desordenar tudo, de eliminar os detalhes e as redundâncias. Começou como uma paródia e acabou em autoparódia. Uma paródia amarga”, explica seu autor.
O íntimo, o pessoal
Muitos escritores chilenos participam da tendência (global) de que o escritor coloque a si mesmo como personagem. Embora, sublinham, a autoficção também tenha algo de mentirosa. “A honestidade de um escritor é com seu tempo, não com sua vida”, opina Zambra. “E a ficção não é o oposto da verdade, como se a vida não incluísse os sonhos!”. Nona Fernández explica de outra maneira: “Estamos em um momento em que as pessoas se disfarçam menos. E portanto pode colocar a si mesmo como personagem”.
Rafael Gumucio (Santiago, 1970) colocou-se com personagem algumas vezes. É autor de Memorias Prematuras (Debate, 2000), um livro inovador por dois motivos: primeiro, porque escrever memórias antes dos 30 não é o mais habitual; o segundo, que trazia o ponto de vista do exilado. O autor –também jornalista e humorista, apresentador de rádio e televisão – passou sua infância na França, onde sua família tinha se refugiado, e retornou ao Chile aos 14 anos. “Foi um choque. O país para o qual eu voltava não era meu país, porque não tinha nenhuma lembrança dele. Assim era uma descoberta que tinha de fazer em voz baixa”. Gumucio refletia sobre a sensação de desarraigamento em uma obra que vincula o pessoal, e portanto emocional, e o político. “Era uma confissão de fragilidade, escrita mais a partir da dúvida que da certeza”.
Gumucio não só foi personagem ele mesmo, como também colocou como protagonista sua avó, uma grande influência em sua vida, em Mi Abuela, Marta Rivas González(Minha Avó, Marta Rivas González) (Ediciones UDP, 2013). O autor considera essa mulher de vida intensa, exilada duas vezes, “o homem da casa”, um modelo de virilidade. “Venho de um mundo onde não somos inteiramente chilenos, franceses nem espanhóis”, diz Gumucio, que também morou na Espanha e nos Estados Unidos. E continua explorando seu passado de nômade. Seu novo romance, Milagro en Haití (Literatura Random House, 2015), se baseia em outra experiência familiar. Sua mãe residiu naquele país caribenho durante um tempo em que viveu um golpe de Estado e uma severa infecção depois de uma operação estética, os pontos de partida do romance. Mas ele diz que as coincidências acabam aí e todo o resto é ficção.
Lina Meruane também sai de seu país, mas não de suas raízes familiares em Volverse Palestina (Tornar-se Palestina; Literatura Random House, 2015), a crônica de sua viagem ao povoado de seus avós, na Cisjordânia. Uma estadia que despertou nela uma “consciência mais política do palestino”, e que a fez fixar-se mais no violento presente que na nostalgia da origem.
Outros episódios negros
Mas nem só sobre ditadura e transição escrevem os jovens autores chilenos. Com 28 anos, Diego Zúñiga (Iquique, 1987) fez sucesso com segundo romance, Racimo (Fragmentação; Literatura Random House, 2015), um relato em torno do desaparecimento de mais de uma dezena de garotas adolescentes que estudavam em um colégio em Alto Hospicio, no desértico norte do Chile. Aquele episódio ainda dói: os familiares das vítimas se depararam com a incompreensão, o descuido e a incompetência das autoridades (um membro do Governo chegou a sugerir que as garotas fugiram e o relacionou a sua “promiscuidade”) até que se descobriu que um psicopata estava por trás das 14 mortes na área. Sem pretendê-lo, Zúñiga produziu um romance noir – ele diz que não é autor de gênero – , ambientado em um lugar desolador e inquietante, onde também se localizava uma fábrica de armas de fragmentação, hoje proibidas. “O cemitério perfeito”, explica Zúñiga. “Não me interessava o assassino em série, falo da ferida do país, que está cheio de casos assim”.

O poeta Glória Dünkler. / r. de q.
Se Zúñiga nos leva ao longínquo norte do Chile, onde nasceu, a poeta Gloria Dunkler (Pucón, 1977) é do extremo sul. E suas histórias se situam nessa terra fria e remota, mas remontam a um século atrás. Depois da independência, milhares de colonos alemães foram assentados no sul para garantir a consolidação do território; os indígenas mapuches, por sua vez, foram deslocados para as colinas, porque não eram considerados aptos para o trabalho agrário. Nesse contexto se situam suas duas coletâneas: Fusche von Llafenko (Ediciones Tácitas, 2009) e Spandau (2012). O primeiro gira em torno do desencontro entre alemães e mapuches. No segundo, fala-se dos criminosos de guerra nazistas refugiados ali, como Walter Rauff, reclamado pela Alemanha e a quem Allende não foi capaz de extraditar. A terceira obra, que se chamará Yatagan, aborda um assunto polêmico: a matança, em 5 de setembro de 1938, de 60 jovens nacistas (com c, variante nativa da ideologia hitleriana) ao esmagar um esforço de revolução pretensamente nacional-socialista.
“É um tema tabu, incômodo”, confessa a autora. “Foi uma massacre mas, como as vítimas eram de tendência nazista, não foi recordada. Não está no cânone do politicamente correto”. A poeta, descendente de alemães e espanhóis, quer combater esse esquecimento. Mas assegura que iniciou essa série com o único objetivo de fazer “uma busca pessoal, uma indagação na sombra do eu”.
Fenômeno independente
Dunkler, que se expressa surpresa com a repercussão de sua obra, é um exemplo da pujança das editorias independentes, uma das chaves do momento literário chileno. Outro caso chamativo é o de Natalia Berbelagua. A jovem escritora de Valparaíso (nascida em Santiago em 1985) alcançou notoriedade com Valporno (Emergencia Narrativa, 2012) uma coleção de contos de sexo explícito, que aborda o mais escuro e sujo que ocorre entre quatro paredes, em contraste com uma sociedade de aparência muito formal. Para sua redação se valeu de ideias deixadas por internautas anônimos em seu blog sobre erotismo. Valporno foi um grito punk, uma provocação que saiu do circuito underground após ser elogiada por Nicanor Parra (contos tão pornográficos como bons, disse o poeta). A autora criou ali dois personagens chamativos, Elías e Alicia, um casal que se trata sem ternura alguma e que revela que “a felicidade é uma mentira”.
Se Valporno tratava da perversão a ponto de chegar ao repulsivo, La Bella Muerte (A Bela Morte) (2013) continuava essa linha fixando-se na crueldade extrema. No entano, seu terceiro livro, Domingo (2015), dá uma guinada e aborda suas lembranças de infância, adolescência e juventude em forma de diário íntimo e em um tom de grande melancolia. Berbelagua explica em um terraço de Valparaíso, cidade portuária e portanto canalha, que tem um “humor negro”, incomum na literatura chilena. “Em Valpornoquis bater; era mais jovem e tem a rebeldia daqueles anos. Domingo é feito de microficções que formam uma história completa”. E aí destaca, de novo, um olhar nada inocente sobre a infância: “Eu trato o horror cotidiano”, diz. “A infância como terreno feliz não existe”.
Se Zúñiga nos leva ao longínquo norte do Chile, onde nasceu, a poeta Gloria Dunkler (Pucón, 1977) é do extremo sul. E suas histórias se situam nessa terra fria e remota, mas remontam a um século atrás. Depois da independência, milhares de colonos alemães foram assentados no sul para garantir a consolidação do território; os indígenas mapuches, por sua vez, foram deslocados para as colinas, porque não eram considerados aptos para o trabalho agrário. Nesse contexto se situam suas duas coletâneas: Fusche von Llafenko (Ediciones Tácitas, 2009) e Spandau (2012). O primeiro gira em torno do desencontro entre alemães e mapuches. No segundo, fala-se dos criminosos de guerra nazistas refugiados ali, como Walter Rauff, reclamado pela Alemanha e a quem Allende não foi capaz de extraditar. A terceira obra, que se chamará Yatagan, aborda um assunto polêmico: a matança, em 5 de setembro de 1938, de 60 jovens nacistas (com c, variante nativa da ideologia hitleriana) ao esmagar um esforço de revolução pretensamente nacional-socialista.
“É um tema tabu, incômodo”, confessa a autora. “Foi uma massacre mas, como as vítimas eram de tendência nazista, não foi recordada. Não está no cânone do politicamente correto”. A poeta, descendente de alemães e espanhóis, quer combater esse esquecimento. Mas assegura que iniciou essa série com o único objetivo de fazer “uma busca pessoal, uma indagação na sombra do eu”.
Fenômeno independente
Dunkler, que se expressa surpresa com a repercussão de sua obra, é um exemplo da pujança das editorias independentes, uma das chaves do momento literário chileno. Outro caso chamativo é o de Natalia Berbelagua. A jovem escritora de Valparaíso (nascida em Santiago em 1985) alcançou notoriedade com Valporno (Emergencia Narrativa, 2012) uma coleção de contos de sexo explícito, que aborda o mais escuro e sujo que ocorre entre quatro paredes, em contraste com uma sociedade de aparência muito formal. Para sua redação se valeu de ideias deixadas por internautas anônimos em seu blog sobre erotismo. Valporno foi um grito punk, uma provocação que saiu do circuito underground após ser elogiada por Nicanor Parra (contos tão pornográficos como bons, disse o poeta). A autora criou ali dois personagens chamativos, Elías e Alicia, um casal que se trata sem ternura alguma e que revela que “a felicidade é uma mentira”.
Se Valporno tratava da perversão a ponto de chegar ao repulsivo, La Bella Muerte (A Bela Morte) (2013) continuava essa linha fixando-se na crueldade extrema. No entano, seu terceiro livro, Domingo (2015), dá uma guinada e aborda suas lembranças de infância, adolescência e juventude em forma de diário íntimo e em um tom de grande melancolia. Berbelagua explica em um terraço de Valparaíso, cidade portuária e portanto canalha, que tem um “humor negro”, incomum na literatura chilena. “Em Valpornoquis bater; era mais jovem e tem a rebeldia daqueles anos. Domingo é feito de microficções que formam uma história completa”. E aí destaca, de novo, um olhar nada inocente sobre a infância: “Eu trato o horror cotidiano”, diz. “A infância como terreno feliz não existe”.

Natalia Berbelagua, em Valparaíso. / daniel guzmán
Como nem tudo que é alternativo é bem entendido, frequentemente perguntam a Natalia Berbelagua se é sadomasoquista, e Gloria Dunkler é mal vista por alguns que a supõem nazista. Nem todo mundo soube ler suas obras.
Um olhar cético
Carlos Franz (Genebra, 1959) não pertence a essa onda de autores entre vinte, trinta e quarenta anos, mas à geração que era madura durante a transição. Ao pedir sua opinião sobre os que estão atrás, discute o conceito: “Há gente muito diversa”. De fato, observa um certo gosto por tendências minimalistas, por uma estrutura muito tênue e magra, mas isso, ressalta, já se fazia nos Estados Unidos nos anos sessenta. “Não há tendências dominantes, mas uma ausência de líderes. Como na política”, aponta ele. Com essa reserva, elogia Zambra por seu “ouvido poético”. E o encaixa em uma tradição chilena de autores apegados ao realismo e ao intimismo. Porque o realismo mágico, observa, “nunca pegou no Chile”, com a única exceção da Isabel Allende, a quem considera quase caribenha “embora ela não saiba”.
Franz, que residiu em Berlim (e em Madri), afirma que nunca se fez no Chile uma revisão do passado como na Alemanha, onde se interrogaram sobre seu passado “de forma complexa e não simplista”. Em Almuerzo de Vampiros (Almoço de Vampiros) (Alfaguara, 2007), o autor situa um estudante em um submundo noturno de malandros que se escondiam do toque de recolher, onde toparão com o fantasma de um de seus melhores professores, transformado em um empreendedor que fala um grosseiro jargão. A linguagem como disfarce. Mas Franz nunca pretendeu fazer uma história da ditadura, e sim buscar valores universais. Neste caso: “As belas palavras e ideais não valem nada diante da merda que é este mundo”.
E Franz adverte contra as leituras críticas da transição iniciada em 1988 que abundam hoje. “A transição chilena foi algo extraordinário. Sem um tiro, sem uma gota de sangue. Foi inclusiva e com êxito econômico”, diz. Mas admite que “a fórmula se tornou insuficiente”. E observa, em um país agitado socialmente, “perigosas tendências populistas”.
Como nem tudo que é alternativo é bem entendido, frequentemente perguntam a Natalia Berbelagua se é sadomasoquista, e Gloria Dunkler é mal vista por alguns que a supõem nazista. Nem todo mundo soube ler suas obras.
Um olhar cético
Carlos Franz (Genebra, 1959) não pertence a essa onda de autores entre vinte, trinta e quarenta anos, mas à geração que era madura durante a transição. Ao pedir sua opinião sobre os que estão atrás, discute o conceito: “Há gente muito diversa”. De fato, observa um certo gosto por tendências minimalistas, por uma estrutura muito tênue e magra, mas isso, ressalta, já se fazia nos Estados Unidos nos anos sessenta. “Não há tendências dominantes, mas uma ausência de líderes. Como na política”, aponta ele. Com essa reserva, elogia Zambra por seu “ouvido poético”. E o encaixa em uma tradição chilena de autores apegados ao realismo e ao intimismo. Porque o realismo mágico, observa, “nunca pegou no Chile”, com a única exceção da Isabel Allende, a quem considera quase caribenha “embora ela não saiba”.
Franz, que residiu em Berlim (e em Madri), afirma que nunca se fez no Chile uma revisão do passado como na Alemanha, onde se interrogaram sobre seu passado “de forma complexa e não simplista”. Em Almuerzo de Vampiros (Almoço de Vampiros) (Alfaguara, 2007), o autor situa um estudante em um submundo noturno de malandros que se escondiam do toque de recolher, onde toparão com o fantasma de um de seus melhores professores, transformado em um empreendedor que fala um grosseiro jargão. A linguagem como disfarce. Mas Franz nunca pretendeu fazer uma história da ditadura, e sim buscar valores universais. Neste caso: “As belas palavras e ideais não valem nada diante da merda que é este mundo”.
E Franz adverte contra as leituras críticas da transição iniciada em 1988 que abundam hoje. “A transição chilena foi algo extraordinário. Sem um tiro, sem uma gota de sangue. Foi inclusiva e com êxito econômico”, diz. Mas admite que “a fórmula se tornou insuficiente”. E observa, em um país agitado socialmente, “perigosas tendências populistas”.

Carlos Franz, no terraço do ‘Le Flaubert’, um dos cenários de seu romance ‘Almuerzo de vampiros’ / r. de q.
A crise chilena atual
Muitos jovens autores chilenos expressam certa sintonia com o movimento de protesto, encabeçado pelos estudantes, que sacode o país desde 2011, o ano em que o ativismo surgiu em escala global. Às demandas sociais se somou a denúncia da corrupção depois de um escândalo que envolveu o filho da presidenta Bachelet, cuja popularidade tem despencado.
Alia Trabucco é categórica em sua visão: “A crise no Chile foi uma bênção. Vimos como se tornou política. O Chile é uma grande fratura social, em que todos competem com todos”. A autora acredita que a sociedade se levantou contra o “ultracapitalismo”, herança da ditadura nunca questionada. Das salas de aula, Zambra põe o foco no drama dos estudantes obrigados a assumir uma dívida para a vida toda a para pagar universidade, o que considera “aberrante”. Os protestos, afirma, “têm a ver com uma mudança geracional e certa autonomia de pensamento”. Apesar de tudo, diz ter esperanças na reforma da Constituição – ainda é vigente a que deixou Pinochet, embora com emendas – prometida por Bachelet.
Gumucio admite que viu com esperança o início das mobilizações, mas teme “sua deriva e a reação da direita sociológica, que é temível”. Em tom cada vez mais exaltado, “todo mundo está sendo desmascarado, e quem não se importar em ser um monstro ganhará”. Zúñiga sustenta a ideia de que em 2011 acordou. “A transição pareceu muito ordenada e que deixava um país próspero, mas não estávamos tão bem”. No entanto se mostra humilde: “É cômodo alguém falar mal da transição quando não a viveu realmente”.
O livreiro Sergio Parra analisa esses autores em função de seu momento político: “É uma geração muito honesta. Fizeram a transição à idade adulta em uma sociedade sem transparência e sem autoridade. É curioso: seus pais vinham do autoritário, agora não há autoridade”.
Reprovação aos pais?
A crise chilena atual
Muitos jovens autores chilenos expressam certa sintonia com o movimento de protesto, encabeçado pelos estudantes, que sacode o país desde 2011, o ano em que o ativismo surgiu em escala global. Às demandas sociais se somou a denúncia da corrupção depois de um escândalo que envolveu o filho da presidenta Bachelet, cuja popularidade tem despencado.
Alia Trabucco é categórica em sua visão: “A crise no Chile foi uma bênção. Vimos como se tornou política. O Chile é uma grande fratura social, em que todos competem com todos”. A autora acredita que a sociedade se levantou contra o “ultracapitalismo”, herança da ditadura nunca questionada. Das salas de aula, Zambra põe o foco no drama dos estudantes obrigados a assumir uma dívida para a vida toda a para pagar universidade, o que considera “aberrante”. Os protestos, afirma, “têm a ver com uma mudança geracional e certa autonomia de pensamento”. Apesar de tudo, diz ter esperanças na reforma da Constituição – ainda é vigente a que deixou Pinochet, embora com emendas – prometida por Bachelet.
Gumucio admite que viu com esperança o início das mobilizações, mas teme “sua deriva e a reação da direita sociológica, que é temível”. Em tom cada vez mais exaltado, “todo mundo está sendo desmascarado, e quem não se importar em ser um monstro ganhará”. Zúñiga sustenta a ideia de que em 2011 acordou. “A transição pareceu muito ordenada e que deixava um país próspero, mas não estávamos tão bem”. No entanto se mostra humilde: “É cômodo alguém falar mal da transição quando não a viveu realmente”.
O livreiro Sergio Parra analisa esses autores em função de seu momento político: “É uma geração muito honesta. Fizeram a transição à idade adulta em uma sociedade sem transparência e sem autoridade. É curioso: seus pais vinham do autoritário, agora não há autoridade”.
Reprovação aos pais?

Lina Meruane / cristian matta
Na construção de um novo discurso sobre a ditadura por parte dos que eram crianças está implícita uma certa recriminação à versão anterior, a de seus pais. Mas os autores que passaram dos quarenta anos, muitos pais por sua vez, querem evitar esse choque. “Sinto-me em paz com eles. Consigo entendê-los”, afirma Nona Fernández. Para Alejandra Costamagna, nos livros dos autores de sua idade se escuta “a voz do filho como a de um detetive. Não mais fazendo um ajuste de contas com seus pais, e sim colocando-nos em seu lugar”.
Gumucio é mais direto: “Eu já passei da fase da recriminação e agora estou na fase de ser pai e culpado”. o autor acredita que em vez de olhar para os outros, o novo é umaliteratura de “o que fizemos nós”, em que cada um se responsabiliza por ter sido parte “de um falso paraíso, desse país em crescimento, mas muito desigual”.
Para Lina Meruane, os autores de sua geração “têm certa culpa de sobrevivência ou inclusive de privilégio quando os pais e mães estiveram a favor do regime. Por muito tempo parecia que todos os romances ou testemunhos eram escritos pelos mártires, ou pelos filhos desses heróis da esquerda, mas essa cena começa a se estilhaçar, tornou-se mais complexa e em certa medida, nem sempre, mais interessante”. Como Alejandro Zambra, que não hesitou em narrar seus desencontros com seus pais direitistas.
Em Formas de Volver a Casa, Zambra explica de forma bela: “Não quero falar de inocência nem de culpa; quero apenas iluminar alguns cantos, os cantos onde estávamos. Mas não estou seguro de poder fazê-lo bem. Sinto-me muito perto do que conto. Abusei de algumas lembranças, saqueei a memória e, também, de certo modo, inventei muito”.
Aulas de literatura chilena
Na construção de um novo discurso sobre a ditadura por parte dos que eram crianças está implícita uma certa recriminação à versão anterior, a de seus pais. Mas os autores que passaram dos quarenta anos, muitos pais por sua vez, querem evitar esse choque. “Sinto-me em paz com eles. Consigo entendê-los”, afirma Nona Fernández. Para Alejandra Costamagna, nos livros dos autores de sua idade se escuta “a voz do filho como a de um detetive. Não mais fazendo um ajuste de contas com seus pais, e sim colocando-nos em seu lugar”.
Gumucio é mais direto: “Eu já passei da fase da recriminação e agora estou na fase de ser pai e culpado”. o autor acredita que em vez de olhar para os outros, o novo é umaliteratura de “o que fizemos nós”, em que cada um se responsabiliza por ter sido parte “de um falso paraíso, desse país em crescimento, mas muito desigual”.
Para Lina Meruane, os autores de sua geração “têm certa culpa de sobrevivência ou inclusive de privilégio quando os pais e mães estiveram a favor do regime. Por muito tempo parecia que todos os romances ou testemunhos eram escritos pelos mártires, ou pelos filhos desses heróis da esquerda, mas essa cena começa a se estilhaçar, tornou-se mais complexa e em certa medida, nem sempre, mais interessante”. Como Alejandro Zambra, que não hesitou em narrar seus desencontros com seus pais direitistas.
Em Formas de Volver a Casa, Zambra explica de forma bela: “Não quero falar de inocência nem de culpa; quero apenas iluminar alguns cantos, os cantos onde estávamos. Mas não estou seguro de poder fazê-lo bem. Sinto-me muito perto do que conto. Abusei de algumas lembranças, saqueei a memória e, também, de certo modo, inventei muito”.
Aulas de literatura chilena
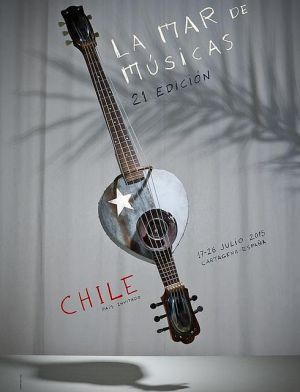
Pôster do festival La Mar de Músicas
Os literatos do Chile são protagonistas de dois eventos no verão cultural espanhol, ao protagonizar dois ciclos de conferências internacionais. Os programas são:
Encontro ‘Nova literatura chilena’. Universidade Internacional Menénez Pelayo, Santander (Espanha). De 15 a 17 de julho. Quarta-feira 15: Jorge Edwards, Juana Martínez Gómez e Alejandra Costamagna. Quinta-feira 16: Niall Binns, María Anjos Pérez López e Glória Kunkler. Sexta-feira 17: Pablo Simonetti, Carlos A. Franz e mesa redonda com esses dois autores e Edwards, Dunkler e Costamagna, moderado por Daniella González Maldini. Dirigido por Dámaso López García. Patrocinado pela Fundação Chile-Espanha. Mais informações:www.uimp.es
Mar de Letras. O Chile é o país convidado deste ano no festival La Mar de Músicas, organizado pela Prefeitura de Cartagena (Colômbia) de 17 a 26 de julho, e que inclui este compartimento literário. Quarta-feira 15 e quinta-feira 16 de julho: curso ‘Itinerários da literatura chilena’. Na segunda-feira 20 de julho, encontro com Alia Trabucco, Alejandra Costamagna e Lara López; Antonio Arco apresenta Carlos Franz. Na terça-feira 21, recital de relatos com Costamagna, Trabucco e Franz; encontro com Gloria Dunkler e recital poético. Quarta-feira 22 e quinta-feira 23: curso de narrativa por Pablo Simonetti. Quarta-feira 22: Fernando Magro apresenta Jorge Edwards. Quinta-feira 23: Eduardo Mendicutti apresenta Pablo Simonetti. Mais informação: www.lamardemusicas.com
Os literatos do Chile são protagonistas de dois eventos no verão cultural espanhol, ao protagonizar dois ciclos de conferências internacionais. Os programas são:
Encontro ‘Nova literatura chilena’. Universidade Internacional Menénez Pelayo, Santander (Espanha). De 15 a 17 de julho. Quarta-feira 15: Jorge Edwards, Juana Martínez Gómez e Alejandra Costamagna. Quinta-feira 16: Niall Binns, María Anjos Pérez López e Glória Kunkler. Sexta-feira 17: Pablo Simonetti, Carlos A. Franz e mesa redonda com esses dois autores e Edwards, Dunkler e Costamagna, moderado por Daniella González Maldini. Dirigido por Dámaso López García. Patrocinado pela Fundação Chile-Espanha. Mais informações:www.uimp.es
Mar de Letras. O Chile é o país convidado deste ano no festival La Mar de Músicas, organizado pela Prefeitura de Cartagena (Colômbia) de 17 a 26 de julho, e que inclui este compartimento literário. Quarta-feira 15 e quinta-feira 16 de julho: curso ‘Itinerários da literatura chilena’. Na segunda-feira 20 de julho, encontro com Alia Trabucco, Alejandra Costamagna e Lara López; Antonio Arco apresenta Carlos Franz. Na terça-feira 21, recital de relatos com Costamagna, Trabucco e Franz; encontro com Gloria Dunkler e recital poético. Quarta-feira 22 e quinta-feira 23: curso de narrativa por Pablo Simonetti. Quarta-feira 22: Fernando Magro apresenta Jorge Edwards. Quinta-feira 23: Eduardo Mendicutti apresenta Pablo Simonetti. Mais informação: www.lamardemusicas.com


Nenhum comentário:
Postar um comentário