17.08.2016 | POR ADRIANA NEGREIROS
A dor inimaginável de chegar em casa de braços vazios não é a única vivida por mulheres que dão à luz bebês mortos no Brasil. Um sistema de saúde ultrapassado e insensível as mantém internadas em maternidades, Rodeadas pelo choro de outros recém-nascidos e respondendo a enfermeiros despreparados a dolorosa pergunta: “Onde está seu filho?”. Mães que viveram essa experiência travam agora uma batalha para que os hospitais se adéquem a normas internacionais mais humanizadas. Aqui, contam como transformaram a maior das tristezas em força de vida
A gravidez da advogada carioca Maíra Fernandes, 34 anos, foi planejada, comemorada e muito bem monitorada. Ela começou a ter contrações na 36ª semana de gestação e, em uma conversa com a médica que a acompanhava, decidiu seguir para o hospital para fazer o tão sonhado parto normal. Chegou à maternidade no dia 22 de julho de 2015, às 9 da noite, acompanhada da mãe e do marido. A futura avó fazia aniversário no dia seguinte e dizia para todos que naquele ano receberia o melhor presente da vida. Maíra passou a madrugada em claro, na expectativa do momento em que veria o rosto de seu filho, Antônio Henrique, o seguraria no colo e acalmaria seu choro. Às 7 horas da manhã, a médica notou que os batimentos de Antônio, ainda na barriga, não estavam normais e decidiu partir para uma cesárea de emergência. Durante a cirurgia, a doutora viu que não havia fezes no líquido aminiótico, o que indicaria que o feto entrara em sofrimento, e que a bolsa não tinha rompido. Suspirou aliviada. Ao trazer o bebê ao mundo, no entanto, percebeu que ele não respirava e que seu coração não batia. “Em nenhum momento achei que as coisas dariam errado. Quando não ouvi meu filho chorar, durante o parto, achei que estava tudo, de alguma forma, dentro do esperado. Havia lido sobre bebês que não choram ao nascer. Percebi que a situação era grave porque ouvi os médicos tentando reanimá-lo sem sucesso. Fiquei muito nervosa, desesperada, comecei a gritar e então fui sedada”, conta Maíra.
Ainda na sala de cirurgia, os pediatras tentaram fazer o coração de Antônio voltar a bater durante longos 40 minutos em que Maíra dormia e o pai, o também advogado Marcelo Oliveira, assistia à cena. A manobra não teve sucesso. A placenta de Antônio havia sofrido um infarto fulminante (tromboses que impedem o fluxo sanguíneo) durante o parto e ele não sobreviveu. “Quando acordei, minha médica estava do meu lado. Senti o clima pesado e não vi nosso bebê. Meu primeiro pensamento foi o de que estava na UTI e perguntei: ‘Onde está meu filho?’. A expressão dela ficou ainda mais pesarosa. Então emendei: ‘Está vivo?’. Quando ela balançou a cabeça em negação, meu mundo caiu. Senti uma dor indescritível, um vazio imenso, algo que ninguém deveria passar na vida. Quis, profundamente, trocar de lugar com ele. Hoje sei que, naquele dia, também morri um pouquinho”, diz Maíra.

Na sequência, a equipe, numa atitude ainda rara nas maternidades brasileiras, perguntou se ela gostaria de se despedir do filho. Maíra disse que sim. Minutos depois, a equipe médica trouxe Antônio limpo e vestido para os braços da mãe. Foi quando ela o pegou no colo pela primeira e última vez. “Ele estava todo arrumadinho, fiquei olhando para o rostinho dele, dizendo o quanto o amava, agradecendo pelos nove meses que passamos juntos, dando beijos. Ficamos um bom tempo juntos e isso foi muito importante para mim”, diz. “Todos os dias lembro do rostinho dele e acho que vai ser assim para sempre.” Nas semanas que se seguiram ao episódio, Maíra procurou um destino para canalizar sua dor e também um caminho para seguir adiante. Decidiu transformar o sofrimento em ação. Tornou-se participante ativa de grupos de mães em luto nas redes sociais. Em comunidades como Do luto à luta, que deu título a esta matéria, fundada pelas irmãs Larissa e Clarissa Lupi, descobriu uma corrente de mulheres que trocavam experiências e apoio. Todas haviam perdido um ou mais filhos durante a gravidez ou no parto. Ali, militavam para que a dor fosse reconhecida e respeitada e, mais que isso, se uniram para exigir do sistema de saúde brasileiro um tratamento humanizado para quem vive o drama. Hoje, boa parte dos hospitais não garante à mãe o direito de ver – nem ao menos de se despedir – o filho morto. Além disso, colocam-nas na ala da maternidade, onde acordam durante a noite ouvindo o choro do bebê alheio e, não raro, precisam repetir aos profissionais do próprio hospital, durante as visitas de rotina, que o delas faleceu.
O trabalho dessas mulheres para jogar luz sobre a perda gestacional avançada começa a trazer resultados. Em outubro, será lançado o livro Histórias de Amor na Perda Gestacional e Neonatal (Bookstar), que traz depoimentos de mães em luto. Além disso, pressionaram os deputados do Rio de Janeiro a mudar a Constituição estadual, garantindo licença-maternidade e paternidade em caso de óbito fetal e neonatal. Também orientam e pressionam o governo federal para que o Brasil se enquadre nas normas internacionais com relação ao tema. Desde o fim do ano passado, um grupo de profissionais de saúde estuda a elaboração de um conjunto de diretrizes. Segundo a sanitarista Adriana Coser, da Fundação Oswaldo Cruz, uma das coordenadoras do grupo, a intenção é que o estudo resulte em uma norma técnica ou uma cartilha, a depender da decisão do Ministério da Saúde. A pasta não dispõe, hoje em dia, de um guia específico para a perda gestacional. “Uma norma exclusiva jogaria luzes sobre o assunto e ajudaria a coibir casos de violência obstétrica, fruto da falta de preparo ou da insensibilidade”, afirma a médica.
RUMO A UM PADRÃO
A história da carioca Elaine Castanheira, 36 anos, é um exemplo do que precisa ser mudado. Ela deu à luz três filhos mortos. O primeiro foi Gabriel, 13 anos atrás. Com 23 semanas de gravidez, começou a sentir contrações. Correu para a maternidade imaginando que pudesse ter um filho prematuro. Mas, após um exame, foi informada pela equipe médica que o bebê já não tinha batimentos cardíacos. Entrou em estado de choque. “A morte nunca havia me passado pela cabeça. O máximo que cogitei foi que pudesse ir para a UTI”, lembra. Deitou na cama obstétrica como se descesse ao inferno. Foram 12 horas de trabalho de parto e dor profunda. Não uma dor física, pela qual até ansiava, mas o horror de saber que, ao fim de tudo, em vez do choro de um bebê, só escutaria um silêncio oco. “É uma dor que não se mede”, diz.
RUMO A UM PADRÃO
A história da carioca Elaine Castanheira, 36 anos, é um exemplo do que precisa ser mudado. Ela deu à luz três filhos mortos. O primeiro foi Gabriel, 13 anos atrás. Com 23 semanas de gravidez, começou a sentir contrações. Correu para a maternidade imaginando que pudesse ter um filho prematuro. Mas, após um exame, foi informada pela equipe médica que o bebê já não tinha batimentos cardíacos. Entrou em estado de choque. “A morte nunca havia me passado pela cabeça. O máximo que cogitei foi que pudesse ir para a UTI”, lembra. Deitou na cama obstétrica como se descesse ao inferno. Foram 12 horas de trabalho de parto e dor profunda. Não uma dor física, pela qual até ansiava, mas o horror de saber que, ao fim de tudo, em vez do choro de um bebê, só escutaria um silêncio oco. “É uma dor que não se mede”, diz.
Concluído o parto, o corpo de Gabriel foi imediatamente retirado da sala. Elaine permaneceu na maternidade, na mesma ala em que estavam internadas outras mulheres cujos bebês tinham nascido saudáveis. Dos corredores, chegavam sons de gemidos de recém-nascidos, vozes de avôs em êxtase, passos miúdos de crianças ansiosas para conhecer os irmãozinhos. Um enfermeiro, distraído, perguntou a Elaine, ao entrar no quarto, se já haviam lhe trazido o pequeno para mamar. “Meu filho nasceu morto”, limitou-se a responder.
Nos dias que se sucederam à tragédia, Elaine caiu em depressão. Passou 12 meses de luto, separou-se do marido. Oito anos depois, casada com outro homem, engravidou novamente. Com 23 semanas, como numa reprise de um filme de terror, sentiu o corpo se ativar para o nascimento. Na enfermaria da maternidade, caiu em desespero, gritou e, na sequência de uma longa espera, foi submetida a um ultrassom. De costas, ao mesmo tempo que anotava alguma coisa em uma prancheta, um médico noticiou, sem meias-palavras: “Seu bebê está morto”. Davi, como Gabriel, só saiu da barriga da mãe depois de 12 horas de trabalho de parto, após o qual também foi retirado da sala às pressas.
No ano passado, Elaine ficou grávida pela terceira vez. Submeteu-se a uma cirurgia no colo do útero, na tentativa de evitar as contrações prematuras. Não adiantou. Na fatídica 23ª semana, deu entrada no hospital. Calejada, tinha poucas esperanças de que Bento pudesse estar vivo. Ele tinha batimentos cardíacos durante o parto, mas nasceu sem vida. Naquela vez, os médicos perguntaram se a mãe gostaria de ver o bebê. Ela teve vontade. Mas, como não tivera a oportunidade de conhecer o rostinho dos outros filhos, achou que não seria justo com os meninos mais velhos guardar apenas a imagem do caçula.
Numa ficção, soaria inverossímil: Elaine é fotógrafa especializada em grávidas e bebês. Acompanha dezenas de histórias com final feliz. Mulheres que retrata com barrigas imensas e voltam ao seu estúdio, dias depois, com o ar exausto das noites insones e um bebê gorducho no colo. “Hoje até que lido bem com isso”, diz. “Mas não foi fácil.” Além de depressão, a fotógrafa enfrentou crises de pânico, ataques de ansiedade e lapsos de memória. Hoje, tem a ajuda de remédios, terapias e fé. “Faço uma oração para meus filhos todos os dias.”
TRATAMENTO HUMANIZADO
Entre as orientações da Organização Mundial da Saúde que se luta para implantar no Brasil, estão a de não sedar a mulher durante o parto e encorajá-la a segurar o filho morto, ficando com ele o tempo que julgar necessário para o adeus. Os pais precisam ser alertados sobre uma possível aparência chocante do bebê. Recomenda-se, inclusive, consultar os familiares sobre o desejo de guardar alguma lembrança da criança, como uma foto, uma mecha de cabelo, a pulseirinha da maternidade. A ausência dessa experiência, segundo os especialistas, pode levá-las a reviver a situação de forma ainda mais dolorosa. Na sequência, orienta-se a fazer autópsia, especialmente quando os pais pretendem engravidar novamente. Tudo isso para evitar que o problema se repita.
TRATAMENTO HUMANIZADO
Entre as orientações da Organização Mundial da Saúde que se luta para implantar no Brasil, estão a de não sedar a mulher durante o parto e encorajá-la a segurar o filho morto, ficando com ele o tempo que julgar necessário para o adeus. Os pais precisam ser alertados sobre uma possível aparência chocante do bebê. Recomenda-se, inclusive, consultar os familiares sobre o desejo de guardar alguma lembrança da criança, como uma foto, uma mecha de cabelo, a pulseirinha da maternidade. A ausência dessa experiência, segundo os especialistas, pode levá-las a reviver a situação de forma ainda mais dolorosa. Na sequência, orienta-se a fazer autópsia, especialmente quando os pais pretendem engravidar novamente. Tudo isso para evitar que o problema se repita.

No exterior, a discussão é mais avançada. A ONG britânica Sands (Stillbirth and neonatal death charity – Apoio aos pais de natimortos, em tradução livre) dá suporte a pais que perderam bebês de forma prematura. Em 2013, 5.700 crianças morreram na Inglaterra pouco antes, durante ou logo após o parto. São mais de cem casos por semana. Na Austrália, onde as mortes neonatais ocorrem em cerca de 1% dos partos, assistentes sociais são convocados para prestar apoio à família tão logo seja constatada a tragédia. Nos Estados Unidos, em que a estatística aponta para quatro bebês mortos a cada mil nascimentos, as diretrizes seguem as dos países desenvolvidos: apoio psicológico à família e orientação para as gravidezes futuras. No Brasil, a taxa é de 16,7 óbitos para mil nascidos.
Mórbidos para muitos, tais procedimentos são apontados por psicólogos como essenciais para a elaboração do luto. A psicóloga Márcia Rodrigues, que estudou a perda gestacional em um mestrado na Universidade de São Paulo, afirma que as lembranças dão suporte para a família lidar melhor com a tristeza. “Aqueles momentos não voltam. O ritual da despedida é importante para que se enfrente a dor e se tente seguir em frente”, diz. Márcia não fala apenas na teoria. Ela perdeu duas filhas em 1994. Em maio daquele ano, Luisa morreu em um parto complicado, na Inglaterra. Por orientação dos médicos, pôs a bebê no colo, tirou fotos, aceitou como recordação uma mecha do cabelinho da filha. Em dezembro, grávida de cinco meses de Ana Elisa, sofreu um aborto. Passava férias no Brasil. No hospital, não conseguiu ver a neném. “Arrependo-me muito de não ter pedido para vê-la. Nunca mais terei essa oportunidade”, lamenta.
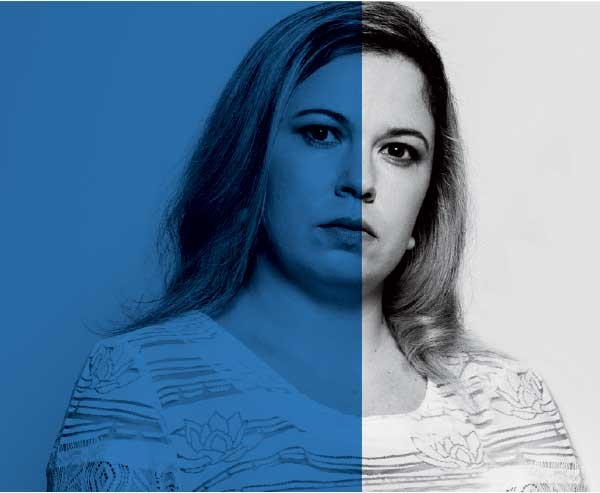
Além de devastador, o sofrimento costuma ser menosprezado pelos amigos e parentes da mulher. “É um sentimento ignorado pela sociedade”, afirma a psicóloga Érica Quintans, que se dedica ao estudo do luto. “Muitos pensam que a dor de um aborto ou de um bebê que nasceu morto é menor. Mas o vínculo se estabelece desde o momento em que a mulher sabe que está grávida. Ou até antes, quando fantasia a maternidade”, explica. Quanto mais cedo a mãe perde o bebê, mais é cobrada a virar a página. “Vivemos em uma sociedade em que o luto não é bem visto”, analisa.
DOR SILENCIOSA
A coach em organização Joana Darc Souza, de 31 anos, também perdeu o filho na maternidade, de forma inesperada. Durante o parto normal, os médicos perceberam que Matheus estava em uma posição desfavorável. Tentaram diversas manobras e por fim ele foi retirado a fórceps, já com os batimentos cardíacos fracos. Quando recebeu o bebê junto ao peito, Joana conta ter sentido o peso de um corpo já sem vida. “Vi na mesma hora que ele não estava respirando”, lembra. Isso aconteceu às 23h17 do dia 6 de janeiro. Nas 12 horas que se seguiram àquele instante, chorou sem parar.
DOR SILENCIOSA
A coach em organização Joana Darc Souza, de 31 anos, também perdeu o filho na maternidade, de forma inesperada. Durante o parto normal, os médicos perceberam que Matheus estava em uma posição desfavorável. Tentaram diversas manobras e por fim ele foi retirado a fórceps, já com os batimentos cardíacos fracos. Quando recebeu o bebê junto ao peito, Joana conta ter sentido o peso de um corpo já sem vida. “Vi na mesma hora que ele não estava respirando”, lembra. Isso aconteceu às 23h17 do dia 6 de janeiro. Nas 12 horas que se seguiram àquele instante, chorou sem parar.
Dois fatores ajudaram Joana a seguir em frente. Um deles foi a “permissão” para sofrer. Ela não conseguiu ir ao enterro de Matheus. Os amigos mais próximos entenderam a dor da mãe e compareceram em peso à cerimônia. O outro foi a disposição para enfrentar uma nova gravidez, algo que muitas mulheres evitam. Hoje, Joana é mãe de Sophie, de 2 anos e 4 meses, e sonha com outros. “Se não fosse minha filha, ainda não estaria de pé”, afirma.
Em comum, todas essas mulheres têm mais do que a vivência de uma tragédia. Deram um grito do tamanho de suas saudades, cada uma à sua maneira – nos movimentos sociais, na política de gabinete, na internet, no trabalho. Conseguiram se fazer ouvir por outras mães, muitas delas imersas em um silêncio solitário. Todas também têm a certeza de que suas feridas não cicatrizarão. Nenhuma mulher está preparada para dar adeus ao próprio filho. Mas, como ensina Maíra Fernandes, “é importante encontrar um cantinho para a dor, acomodá-la e seguir em frente”. E , para isso, é preciso respeito.

Nenhum comentário:
Postar um comentário